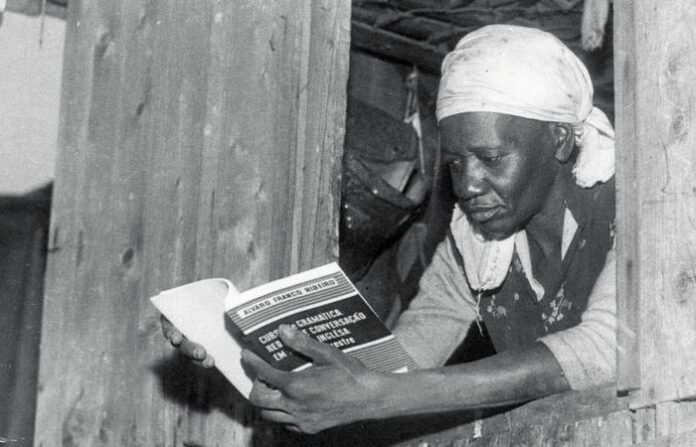Maria Betânia Silva no GGN
Nota: a primeira versão deste texto serviu de base a uma fala minha no Dia Internacional da Mulher, em evento promovido pela (AMPPE). A primeira versão tinha um viés mais informativo e opinativo, já esta apresenta, em conteúdo e forma, algo mais próximo de um ensaio. Ainda opinativo, mas busca instigar uma pesquisa direcionada às questões que suscita.
- OS HOMENS BRANCOS
Gilberto Freyre (Casa Grande&Senzala, 1933), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil – 1936), Caio Prado Junior (Formação do Brasil Contemporâneo, 1942), Florestan Fernandes ( A Etnologia e a Sociedade Brasileira, 1959), Raimundo Faoro (Os Donos do Poder, 1959), Darcy Ribeiro (O Povo Brasileiro, 1995) e tantos outros nomes estão sempre presentes, quando se trata de discutir o Brasil. Aliás, eles não podem nunca cair no esquecimento diante das valiosas contribuições intelectuais que deram para refletir sobre o nosso país, por haverem produzido obras clássicas nas quais buscam destrinchar a teia histórica que envolve a nossa formação como sociedade, como Estado, como nação. Todos esses autores são referência do chamado “pensamento político-social brasileiro”, concorde-se ou não com os seus pontos de vista, teses e argumentos. Todos eles, com exceção de Raimundo Faoro, atuaram em espaços acadêmicos. Todos estão identificados, em algum aspecto, com o modelo de produção intelectual eurocêntrica e também estadunidense. Todos têm projeção nacional e internacional. E, finalmente, do ponto de vista fenotípico, todos, são homens brancos.
Pode-se afirmar que além de comporem o panteão do saber acadêmico com escritos sobre o Brasil eles estão incluídos – como sempre estiveram – numa categoria sociológica, a de “homens brancos”, o que, na atualidade, parece inaugurar certo desconforto, porque o uso dessa categoria no discurso corrente adquire, muitas vezes, um tom condenatório. Mas, em definitivo, não se trata aqui de nutrir a ideia de condenação de quem quer que seja. Essa menção ao gênero e ao fenótipo se deve ao fato de que esses aspectos, uma vez interseccionados, se prestam a identificar esses autores a um dos elementos culturais que compõem o povo brasileiro. Para além disso, são aspectos que constituem ponto de partida para empreender uma intrigante reflexão: apontar o paradoxo contido nas obras que eles escreveram ao fazerem uma abordagem sobre a formação do Brasil sem que tenham claramente refletido sobre o quanto essa formação os impactou na percepção que eles tinham de si mesmos e na produção dos seus saberes.
Em outros termos, a menção ao gênero e à cor da pele desses autores fomenta uma outra abordagem sobre eles próprios e sobre a importância das obras que escreveram, colocando-os em posição de sujeito observador de uma realidade na qual não eram forasteiros mas, ao contrário, estavam nela inseridos.
Convém, antes de enveredar por esse caminho, enfatizar que com essa afirmação que está afastado o tom condenatório muitas vezes embutido na categoria: “homens brancos”. Até porque ninguém pode carregar culpa em virtude da cor da sua pele ou ser rejeitado por isso. De igual modo, ninguém deve ser criticado, discriminado ou rejeitado por causa do seu gênero (melhor usar o termo “gênero” por ser um conceito relativo ao papel social que uma pessoa assume e que pode ou não corresponder ao seu sexo biológico). Nessa linha de raciocínio, por conseguinte, acresça-se que ninguém pode ser submetido à censura ou à discriminação por causa de sua orientação sexual. Assim, criticar, censurar, discriminar ou rejeitar alguém por seu gênero ou por sua cor de pele é um absurdo, é crime e, do ponto de vista da boa convivência social, algo sem cabimento, um atestado de fracasso civilizatório, pelo menos daquilo que no imaginário popular se considera como civilização.
Então, voltando aos renomados autores, cabe salientar que as obras por eles produzidas persistem como referência e importam muito para toda sociedade brasileira porque: a) converteram-se em paradigmas, instaurando um caminho epistemológico a ser trilhado sem que tenham desconectado da posição social por eles ocupada; b) permitem incorporar aos novos estudos sobre o Brasil as contribuições acadêmicas que eles deram, consistentes em revisitar a História do país pelo direito e pelo avesso e os impactos do processo de colonização e, por fim, c) permitem rever o modo como eles foram considerados no seio da sociedade brasileira, posto que foram aclamados, lidos e muito, muito respeitados. Foram homens intelectualmente bem sucedidos. Do ponto de vista profissional, como professores, exibiram o capital intelectual e com isso eles se tornaram “gente”, algo, aliás, que nunca se lhes pôde negar, pois qualquer um que nasce e atravessa uma existência no mundo sensível é “gente”.
A propósito, cabe aqui uma pequena digressão para sublinhar um valor cultural muito característico da nossa sociedade. É que a expressão “ser gente” é muito cara ao gosto da população brasileira e povoa a mente de quase todos nós. “Tornar-se gente” é um sonho que se nutre em família e a partir dela. Brasil afora, mães e pais, sobretudo das classes sociais desfavorecidas, costumam expressar o desejo de que seu filho ou sua filha se torne “gente” e isso, além de envolver um plexo de valores cultuados pela família, na prática, traduz a ideia de alguém bem sucedido na vida. Esse é o sentido mais radical que se confere a essa expressão.
Numa outra perspectiva mais aprofundada e, talvez, um pouco analítica, “ser gente”, a rigor, implica manter uma interação contínua com os mais diversos fatores temporais e espaciais que se intercruzam e imprimem à existência das pessoas, seja através de um processo consciente, seja através de um processo significativamente inconsciente e silencioso, uma forma de ser, estar e viver. Isso significa que somos todos, de algum modo, modelados por um sistema, uma estrutura erguida com base em fatores temporais e espaciais, a qual está para além de nós e, portanto, muitas vezes, exerce uma influência imperceptível quanto ao que somos e nos tornamos. É justamente porque sempre se vive numa intersecção entre tempo e espaço que há uma indeterminação quanto àquilo que fortemente é ou não uma condicionante da nossa forma de ser, estar e viver. Somente por meio de um atento e incessante trabalho de autorreflexão individual e de interação com o coletivo torna-se possível identificar o fator predominante na formação da pessoa que “se torna gente”.
Então, retomando a linha de raciocínio focada no gênero e na cor de pele dos autores citados, o propósito é despertar o interesse em saber sobre a influência positiva que, eventualmente, essas características identitárias tiveram nas suas trajetórias de vida e de como isso repercutiu nas suas produções acadêmicas. Pode-se adiantar que provavelmente o fato de pertencerem ao gênero masculino lhes demarcou uma zona de conforto dentro da qual puderam se mover e que a cor clara de pele não lhes impôs quaisquer restrições. Assim, de qualquer sorte, nada disso serve – nem poderia – para lhes arrancar o mérito de terem produzido textos importantes, os quais demandam uma cuidadosa leitura para serem criticados, revistos e/ou reinterpretados. Dentre todos esses autores, Gilberto Freyre é sem dúvida o mais polêmico, como se verá mais adiante.
Pois bem, dito isso, é possível que vocês estejam começando a se perguntar: o que é que esses autores têm a ver com o Dia Internacional da Mulher?
Seria mais fácil afirmar que, em princípio, eles não têm nada a ver com esse Dia mas, curiosamente, examinando bem de perto, têm muito a ver.
- O CONTEXTO E OS TEXTOS DOS HOMENS BRANCOS
Na área de Ciências Humanas por onde os referidos autores, por muito tempo, transitaram, mulher nenhuma “concorreu” em projeção intelectual. Ainda que considerando justa a projeção intelectual que tiveram, devem ser citados em contraponto à invisibilidade à qual algumas mulheres foram relegadas. Torna-se absolutamente necessário fazer aqui um resgate dos merecidos aplausos que tiveram, dos quais suas obras ainda usufruem – e não poderiam deixar de usufruir –, para pontuar que não foi possível, na época deles, conhecer mulheres com as quais tenham dividido méritos acadêmicos. As razões para isso são diversas e têm a ver com a dificuldade de acesso à educação enfrentada por muitas mulheres ao longo de décadas: desde a criação de cursos universitários em Ciências Humanas, passando pela total impossibilidade de acesso para muitas e, provavelmente, em relação àquelas que conseguiam acesso, o fato de estarem em número inexpressivo para se destacarem.
O tempo foi mudando e as mulheres foram pouco a pouco ocupando diferentes espaços, inclusive, o acadêmico, e mais especificamente aqueles relativos à área das Ciências Humanas. Na atualidade, o nome de mulheres que conquistaram, em termos de produção intelectual, a mesma grandeza que esses autores estampam, já vêm à memória com certa facilidade: Marilena Chauí, por exemplo, é um nome! Legitimamente celebrizada como filósofa, ela tem uma expressão intelectual e trabalhos significativos para compreensão do Brasil e de muitos outros temas estudados com frequência por homens. Ao longo do tempo é possível observar um aumento no número de mulheres com acesso à educação superior e, por via de consequência, na produção acadêmica. Contudo, inequivocamente, poucas ocupam a posição de serem referência no pensamento político-social brasileiro. Há aquelas que, apesar de terem essa envergadura, foram postas à margem na conquista de um público leitor e até na reinvenção quanto à forma de produção de um saber científico, de um outro saber.
Pois bem, é justamente essa situação marginal da mulher no ambiente acadêmico e mais especificamente na área das Ciências Humanas que tem tudo a ver com o Dia Internacional da Mulher e com os homens, em especial, os homens brancos. É no domínio das Ciências Humanas que emerge a produção de um saber classificado como “O Saber”, o “conhecimento legítimo” e que, paradoxalmente, oferta reflexões sobre a importância do ser humano, das suas relações sociais e da sua condição de sujeito cognoscente. É também do ambiente acadêmico, em qualquer área da Ciência, aliás, que emerge o saber visto como imbatível por ser resultado de anos de pesquisa, horas seguidas de reflexão profunda, dias intermináveis de produção de texto, culminando numa noite de autógrafos ou no lançamento – até mesmo sem noite de autógrafos – de um livro de leitura obrigatória para todes. Esse é o padrão de produção de saber científico e de aclamação intelectual que predomina no Brasil e em muitos outros países do mundo ocidental.
A verdade, no entanto, é que esse padrão de saber sempre foi do domínio do “homem branco” e essa regra é confirmada pela exceção. Exemplo disso é o genial Milton Santos, professor negro cuja aclamação no Brasil somente ocorreu após seu retorno do exterior e a conquista do maior prêmio de Geografia concedida a alguém fora do mundo anglo-saxão.
Com relação à presença de mulheres brasileiras no campo das Ciências Humanas, a diferença entre o Brasil e outros países é que, nos outros países, sobretudo do norte global, esse padrão foi rompido mais cedo com a emergência de movimentos feministas nas décadas de 50/60, inseridos na designada terceira onda feminista. Apesar disso, o que parece persistir nesse processo é apenas a percepção de um rompimento do monopólio masculino na produção e difusão do saber, sem que se tenha alcançado um nível equilibrado de trocas mútuas entre a produção intelectual masculina e a feminina. Sem medo de cometer um grande equívoco, pode-se dizer que as mulheres talvez citem muito mais fácil e frequentemente obras escritas por homens do que o inverso, afinal, foi o gênero masculino que exerceu o monopólio na difusão do saber produzido, desconsiderando a produção do saber feminino.
E é sobre isso que se precisa refletir, enfatizando que o gênero feminino, por óbvio, quando presente no ambiente acadêmico, produziu saber – até porque também produz fora desse ambiente, no entanto, foi e ainda é o gênero masculino que se mantém em evidência na produção do saber nas universidades. O reconhecimento do gênero feminino aí é exceção e permanece como algo estranho ao padrão.
Tudo que foi dito até aqui tem o propósito de trazer à tona o viés patriarcal que atravessa muito fortemente a formação da sociedade brasileira e que, de forma quase imperceptível, dominou sobretudo os espaços acadêmicos de produção do saber no país. Paradoxalmente, o patriarcado que, efetivamente, foi objeto de estudo por esses autores brasileiros, tornados paradigmáticos, não foi notado como fator também estruturante do monopólio do saber masculino. A esse paradoxo se soma, portanto, aquele segundo o qual as Ciências Humanas constituem um campo do saber voltado para as relações humanas e para o sujeito cognoscente e acende o alerta de que desse último conceito as mulheres parecem ter sido excluídas.
O fato é que a lógica patriarcal é secular – milenar, talvez – na exaltação do trabalho intelectual atribuído ao gênero masculino, pondo-o no centro. Essa lógica tem e teve, por consequência, a marginalização ou a invisibilização do trabalho intelectual das mulheres. Mais uma vez, não se trata de culpar os homens individualmente considerados por esse estado de coisas, muito menos censurar os intelectuais aqui mencionados cujas obras abordaram a temática do patriarcado. O que se pretende com essa afirmação é enfatizar que a História do Brasil foi marcada pelo poder patriarcal e esse poder se tornou um dos pilares de nossa formação social, por conseguinte, um fator estruturante das relações intersubjetivas em todos os espaços da vida, chamando mais acentuadamente a atenção no ambiente acadêmico de domínio das Ciências Humanas porque é onde se atesta o potencial cognitivo de quem se dedica a pensar o humano sob várias perspectivas.
Ironicamente, repita-se, o patriarcalismo se acentua no espaço em que o humano e suas relações intersubjetivas são objeto de pesquisa e isso acontece de um modo que fez com a mulher passasse da condição de mero objeto de estudo para a de produtora de saber sobre a sua própria condição. Porém, ao assumir a posição de sujeito de produção do saber no interior de um sistema de pensamento e de vivência patriarcal, a mulher, diferentemente dos homens brancos, tende a produzir um saber que logo é tão-somente identificado à luta feminista, numa clara tendência a associá-lo com ativismo que se faz fora do ambiente acadêmico. Por conseguinte, esse saber adquire uma perspectiva de estar apenas relacionado àquilo que diz respeito exclusivamente às mulheres e isso encerra uma, falácia, porque tudo o que diz respeito às mulheres é pertinente ao resto da sociedade: homens, jovens e crianças, transgêneros. Portanto, o saber produzido pelas mulheres, em especial pelas negras, no âmbito acadêmico, é uma parte essencial para a compreensão da arquitetura social brasileira e dos mecanismos que atuam para invisibilizá-las nesse espaço.
Diante desse cenário, como explicar que autores paradigmáticos para o pensamento político-social brasileiro que, inclusive, abordaram o patriarcado, não tenham se livrado dessa influência na produção do saber? Como então definir o patriarcado e/ou identificá-lo?
Pode-se dizer que o patriarcado consiste num sistema que impõe uma forma de ver e conceber o mundo a partir da hierarquia de gêneros, fazendo prevalecer o gênero masculino sobre o feminino. Por conseguinte, mediante uma ação consciente e/ou até inconsciente, o gênero feminino é encolhido e invisibilizado em suas expressões e manifestações individuais ou coletivas, sendo levado a uma condição subalternizada que culmina na objetificação da mulher e do seu corpo, como se a mulher fosse estruturalmente só um corpo a ser apreciado de um ponto de vista estético, alguém desprovida de inteligência ou de capacidade para construir um, saber, quanto à compreensão do mundo da vida e das relações intersubjetivas que esse mundo engendra. E mais: é como se a mulher fosse incapaz de sistematizar o saber produzido e adquirido para fixá-lo como referência de ensinamentos e aprendizados numa relação dialógica que sirva a toda sociedade e não apenas às próprias mulheres.
Não se pode esquecer que é por causa do patriarcado que a violência (física e psicológica) contra a mulher é naturalizada; é por causa do patriarcado que a mulher em certos postos de trabalho ganha menos do que o homem; é por causa do patriarcado que a voz da mulher é silenciada e considerada incômoda; é por causa do patriarcado que muitas ideias gestadas na cabeça das mulheres são apropriadas pelos, homens, sem que a autoria feminina seja reconhecida.
O patriarcado não tem uma data de nascimento definida, tampouco uma nacionalidade, mas ele aportou no Brasil com os portugueses e também está presente em vários países europeus. Numa linguagem que remete à situação de pandemia, pode-se dizer que o patriarcado é um vírus potente que penetra no tecido social, tendo no homem, no macho, o seu hospedeiro originário, mas que também “salta” para a mulher até que ela seja despertada para o fato de haver sido infectada.
Assim, para arrematar essa reflexão, estimulando o rompimento com a estrutura patriarcal e demonstrando essa possibilidade, cabe aqui destacar o trabalho intelectual de três mulheres que, para além de serem expoentes do gênero feminino na produção do saber, são identificadas àquelas que se situam na base da pirâmide social, já que são mulheres negras. Como se sabe, a pirâmide social brasileira está construída de forma que, no seu topo, encontra-se o homem branco. Abaixo dele, a mulher branca. Abaixo dela, o homem negro. Abaixo de todos: a mulher negra.
Das três mulheres intelectuais negras que merecem aqui destaque, duas delas já faleceram, embora continuem pulsantes através dos seus textos, que vigoram ao lado da produção da terceira delas, encontrando-se na plenitude de sua vida. Todas se impõem como paradigma do pensamento social, brasileiro, ao lado dos autores homens brancos aqui mencionados. Isso porque elas analisaram o Brasil com lentes que os grandes pensadores nomeados na introdução deste artigo não usaram, mesmo que tenham tido sensibilidade para a temática da negritude e do patriarcado. São elas: Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro.
MULHERES, TEXTO, CONTEXTO: O BRASIL NO FEMININO
Para ilustrar o modo de pensar dessas intelectuais, foram pinçados aqui alguns extratos de falas que proferiram ou de textos que escreveram.
- Lélia Gonzalez (1935 – 1994). Foi a 17ª de 18 irmãos. Nasceu em MG, mudou-se para o RJ. Antropóloga, política, historiadora, professora, ativista do MNU – Movimento Negro Unificado:
“Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles”.
“O discurso pedagógico internalizado por nossas crianças, afirma que a história do nosso povo é um modelo de soluções pacíficas para todas as tensões e conflitos que nela tenham surgido. Por aí pode-se imaginar o tipo de estereótipos difundidos a respeito do negro: passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranquila da escravidão etc. (…) Assim como a história do povo brasileiro foi outra, o mesmo acontece com o povo negro, especialmente. Ele sempre buscou formas de resistência contra a situação sub-humana em que foi lançado”.
“O nosso herói nacional foi liquidado pela traição das forças colonialistas. O grande líder do primeiro estado livre de todas as Américas, coisa que não se ensina nas escolas para as nossas crianças. E quando eu falo de nossas crianças, estou falando das crianças negras, brancas e amarelas que não sabem que o primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistiram à escravidão e se dirigiram para o sul da capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas, a fim de criar uma sociedade livre e igualitária. Uma sociedade alternativa, onde negros e brancos viviam com maior respeito, proprietários da terra e senhores do produto de seu trabalho. Palmares é um exemplo livre e físico de uma nacionalidade brasileira, uma nacionalidade que está por se constituir. Nacionalidade esta em que negros, brancos e índios lutam para que este país se transforme efetivamente numa democracia.”
“Ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto amefricanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo, trazemos conosco a marca da libertação de todos e todas. Portanto, nosso lema deve ser: organização já!”
Diante desses extratos, impossível não lembrar de Gilberto Freyre, o qual teve o mérito de apontar o negro como elemento formador da cultura brasileira, algo que, ninguém, até 1933 tinha feito, quando lançou o seu famoso Casa Grande&Senzala. Contudo, a ele coube romantizar as relações entre os senhores de Engenho e as escravas da senzala, como se nunca tivesse havido, conflitos, nem violência nessa relação. A romantização ou falseamento da realidade foi tal que ele passou a ser considerado o autor que instituiu o mito da democracia racial. A percepção de que havia esse mito na obra de Gilberto Freyre se deve a Florestan Fernandes, que analisou as relações sociais no Brasil sob o viés de classe social, sem desconsiderar a subalternização dos negros.
Apesar da aguçada e pertinente crítica de Florestan Fernandes, trazendo Casa Grande&Senzala para a perspectiva de luta de classes, aquele autor não chegou a centrar seus estudos e análises na mulher negra. Não estava obrigado a fazê-lo e talvez não o tenha feito porque sequer atentou para a relevância dessa temática e para as implicações sociais daí decorrentes. Quem fez isso foi Lélia Gonzalez, que vislumbrou três arquétipos da mulher brasileira: a ama de leite (aquela que cuida das crianças brancas e se vê obrigada a relegar as suas), a mulata ( que acende os desejos, a volúpia) e a trabalhadora doméstica (que de algum modo, hoje, é a representação moderna da ama de leite). Coube também a Lélia Gonzalez assinalar a adaptação da língua portuguesa aos usos linguísticos herdados dos negros escravizados, gerando o que ela chamou de Pretuguês, atentar para a condição colonial das etnias diaspóricas ou nativas exterminadas no sul global, redefinindo a América do Sul como a Amefrica Ladina e, assim, falar de todas as Américas como uma amefricanidade.
Dentre suas inúmeras obras, convém destacar aqui “Racismo e sexismo na cultura brasileira.” In: SILVA, Luiz Antônio Machado et alii. Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos. Brasília, ANPOCS, 1983. 303p. p. 223-44. (Ciências Sociais Hoje, 2.).
- Beatriz Nascimento (1942- 1995) – 10 irmãos. Nasceu em SE mudou-se para o RJ.
Destacada historiadora nos estudos sobre o quilombo como organização social e forma de resgate do negro livre, não apenas após o processo de alforria, mas como a forma originária de vida do povo negro antes de cruzar o Atlântico.
Segundo Beatriz:
“o quilombo é um avanço, é produzir e reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro, quando precisa ser guerreiro. E também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiciência, uma sabedoria. A continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A resistência. Uma possibilidade nos dias de destruição”.
As pesquisas realizadas por Beatriz Nascimento para retratar o real sentido de quilombo tiveram por base documentos policiais relativos à repressão contra os negros. Nessa esteira, ela argumentou que, como os negros não puderam deixar nada escrito – a história deles foi escrita por mãos brancas –, o registro do que se tinha nos documentos policiais estavam reduzidos aos aspectos negativos e à rejeição do branco ao negro. Beatriz viajou à África duas vezes e essas viagens não apenas lhe deram a possibilidade de reconstruir a ideia do quilombo como serviram de base para a montagem de um documentário “Ori”, dirigido por Raquel Gerber e narrado pela própria Beatriz que se designava também como uma mulher “Atlântica”.
Dentre os seus textos: “O conceito de quilombo e a resistência cultural negra”, Afrodiáspora Nos. 6-7, pp. 41–49. 1985.
- Sueli Carneiro (1950 – ). Filósofa, escritora e ativista.
Filósofa, fundadora do Geledès (Instituto da Mulher Negra), Sueli se ocupa e se preocupa com a representatividade da mulher negra que nunca é associada a uma posição de poder, mas de subalternidade.
Em 2009, Sueli Carneiro produziu o estudo “Mulheres negras e poder: um ensaio sobre a ausência”. Em seus estudos, ela se inquieta também com o apagamento dos saberes dos povos colonizados, valendo-se, para descrever esse processo, da terminologia “epistemicídio”, cunhada por Boaventura Sousa Santos.
Ainda, Sueli reflete sobre a situação da mulher negra no movimento feminista brasileiro, inclusive havendo escrito um texto intitulado “Enegrecer o Feminismo”, por perceber que a “mulher negra”, em qualquer lugar que esteja, tende a ocupar espaço sempre na subalternidade. Dentre os seus escritos, um que traz o arcabouço de suas investigações e preocupações: A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese (Doutorado em Filosofia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
Finalizando este trabalho de resgate da produção do saber feminino e negro, dimensionando-lhe o potencial analítico fundamental para a compreensão da sociedade brasileira e suas dinâmicas, cabe lembrar que várias outras mulheres negras, nas mais diversas áreas de atividade, no Brasil, merecem destaque pelo talento que exibem e que, na sua área de atuação, romperam os grilhões do patriarcado e do racismo. Lembrá-las é reconstruir um pouco da História deste país e de como ele se firmou como um território avesso às mulheres, em especial às mulheres negras.
No âmbito acadêmico, foco deste artigo, chama-se ainda a atenção para a importância de outras mulheres cujos caminhos, de certo modo, foram abertos por Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro. São elas: a) Djamila Ribeiro, que tão bem esclareceu o conceito de “lugar de fala” e também deu sua contribuição para desenvolver uma educação antirracista, através do lançamento do seu manual; b) Carla Akotirene, que realizou uma extensa e abrangente pesquisa, apresentando com firmeza quase toda literatura feminista negra produzida fora do Brasil, indo de Angela Davis, passando por Kimberle Chrenshaw, bell hooks, Patricia Hill Collins e autoras nigerianas que trataram do conceito de Interseccionalidade, o qual dá titulo ao seu livro; c) Ana Maria Gonçalves, com o seu impactante romance histórico “Um defeito de Cor”, livro premiado pela Casa de Las Américas, que, embora não esteja situado propriamente no domínio acadêmico, inequivocamente, faz um contraponto a Casa Grande&Senzala na reconstrução do espaço e do tempo escravocrata no Brasil; d) de poesia pulsante, a escrevivência de Conceição Evaristo nas palavras; e) de sensibilidade e originalidade, os escritos de Carolina de Jesus e f) do pensamento e atuação frente à SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial , de Luiza Bairros.
Certamente todas essas mulheres são o convite para dar as mãos a Elza Soares, Zezé Motta, Teresa Cristina e tantas outras. Também para exaltar com arte a passagem de Ruth Cardoso por este mundo, a primeira atriz negra de telenovela no BR, o samba de Tia Ciata (início do século XX)… Exaltar a necessidade de o povo brasileiro lutar pelos seus direitos fundamentais, como o fizeram Teresa de Benguela, Luiza Mahin, Dandara, culminando, desse despertar, o grito de Justiça pela morte de Marielle Franco.
Maria Betânia Silva – Procuradora de Justiça aposentada – MPPE e membra do Coletivo Transforma – MP. DEAs com foco em Sociologia Política e Filosofia Política – Paris VII e EHESS, respectivamente. MSc. Em Práticas de Desenvolvimento – Brookes University – Oxford