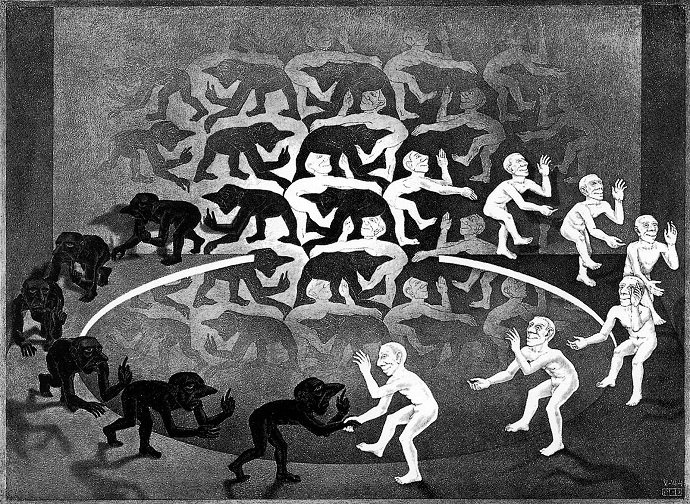Por Gustavo Roberto Costa no Conjur
Muito se tem falado sobre a prisão “em flagrante” do deputado Daniel Silveira, decretada pelo Supremo Tribunal Federal — e posteriormente mantida pela Câmara dos Deputados. A mídia hegemônica trata o caso com a desinformação de sempre: o deputado teria atacado o Supremo Tribunal Federal e as instituições, teria defendido o AI-5, “o instrumento mais autoritário da ditadura militar”, e teria organizado e participado de “atos antidemocráticos”. Em suma, teria atentado contra “a democracia”.
Na decisão que ordenou a prisão, o ministro Alexandre de Moraes asseverou que “a previsão constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade do País ser regido por normas democráticas, com observância da Separação de Poderes, bem como vincula a todos, especialmente as autoridades públicas, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais, com a finalidade de afastamento de qualquer tendência ao autoritarismo e concentração de poder”.
Tudo o que não houve na decisão.
Um parêntesis para o registro do mais absoluto repúdio que merecem as práticas do deputado Daniel Silveira. Desde a desrespeitosa quebra da placa da vereadora assassinada Marielle Franco até o malfadado vídeo com ofensas vis e gratuitas a ministros do STF, passando pela participação em atos de defesa da ditadura, a breve carreira política do deputado revela, a meu ver, o que há de pior e mais deletério na política e na sociedade brasileiras.
De volta à decisão, a primeira, mais grave e pouco comentada violação à ordem jurídica foi ao artigo 53 da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade de deputados e senadores por suas palavras, opiniões e votos. Note-se que não há exceções. “São invioláveis” significa “são invioláveis”, e não “são invioláveis desde que tenham a concordância e a aprovação do senso comum”.
Não podem ser os ministros do STF, nem os membros do Congresso Nacional, nem juízes, nem procuradores, nem veículos de mídia, nem ninguém, os árbitros que vão decidir quais declarações estão incluídas na imunidade e quais não estão. Atacar a imunidade parlamentar — em verdade um direito democrático da própria população — a pretexto de combater o autoritarismo desaguará inevitavelmente no enfraquecimento da própria democracia.
Hoje é o deputado de extrema direita. Amanhã serão outros. Dessa forma, não haverá necessidade de “fechar o Congresso”. Basta prender os parlamentares com os quais se discorda.
Além do mais, não estava o deputado, de maneira nenhuma, “em flagrante de crime inafiançável”, o que representa uma afronta ao disposto no parágrafo 2º do artigo 53 da CF. O argumento lançado na decisão, no sentido de que o deputado, “ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que (…) permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e consequentemente em flagrante delito”, não convence.
Se o flagrante permanente existir enquanto o vídeo estiver disponível nas redes sociais, então teremos que admitir que depois de meses, e até de anos, seu autor ainda possa ser “preso em flagrante” em razão do crime. A prisão não foi efetuada durante e nem logo após a prática do ato, e a elasticidade levada a efeito pelo ministro resulta de interpretação não pensada pelo legislador. Uma prisão ilegal, portanto.
Afora isso, não se trata de “crime inafiançável”, a única hipótese que permitiria a prisão em flagrante de um deputado. Os crimes inafiançáveis, de acordo com a CF e o Código de Processo Penal, são os de racismo, os hediondos e equiparados e a ação de grupos armados contra o Estado democrático de Direito (artigo 5º, XLII, XLII e XLIV, CF e artigo 323, I, II e III, CPP).
O não cabimento da fiança no caso concreto em razão da presença dos requisitos para a prisão preventiva (artigo 324, IV, CPP), outro argumento utilizado pelo ministro, não torna o crime inafiançável. Trata-se de uma discricionariedade do juiz no momento de decidir. Dessa forma, os crimes supostamente praticados (previstos na Lei de Segurança Nacional) são afiançáveis, de modo que não permitem a prisão em flagrante de um deputado federal.
Não bastasse, é paradigmático que se justifique a prisão de um deputado por ter ele “defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente” o AI-5 utilizando-se de dispositivos de uma lei que estruturou e serviu de base para as mais arbitrárias ações da ditadura militar: a Lei de Segurança Nacional. Para combater o autoritarismo e a apologia à ditadura militar lança-se mão de um instrumento ultra autoritário da própria ditadura militar. Inexplicável.
Trata-se de lei que prevê tipos penais abertos, que permite o enquadramento de condutas das mais diversas, que atenta frontalmente contra o Estado democrático de Direito. Trata-se de lei não recepcionada pela Constituição Federal, e todo aquele que se diz “defensor da democracia” deveria repudiá-la tanto quanto repudia a ditadura militar, o AI-5 e as ações do deputado Daniel Silveira e de seus correligionários.
A prisão do deputado, ao contrário do que se imagina, é um atentado contra a democracia. Suprime mais uma liberdade democrática. Aumenta o poder do menos democrático dos Poderes: o Judiciário. As ideias autoritárias devem sim ser combatidas, mas não com mais autoritarismo.
O STF, lembre-se, rasgou a Constituição ao permitir o golpe de Estado de 2016 e ao permitir a prisão de cidadãos antes de condenações definitivas, avalizou a esmagadora maioria dos abusos da lava-jato, até agora nada fez para frear a entrega da riqueza nacional para forças estrangeiras, até agora manteve a inconstitucional emenda do teto de gastos; age como se as “instituições estivessem funcionando” e o país não estivesse mergulhado num caos completo.
Uma instituição com esse breve histórico (sem prejuízo de outros vários exemplos) não pode se arvorar na condição de “defensora da democracia”, notadamente se o faz utilizando-se de expedientes também ilegais, também arbitrários e também ditatoriais. Ser o “guardião da Constituição” exige prudência e responsabilidade, o que a decisão comentada não demonstra nem de longe.
Se o STF exige respeito — e deve mesmo fazê-lo —, deve primeiramente respeitar a Constituição e as leis.
Gustavo Roberto Costa é promotor de Justiça em São Paulo, mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, membro fundador do Coletivo por um Ministério Público Transformador – Transforma MP e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD.