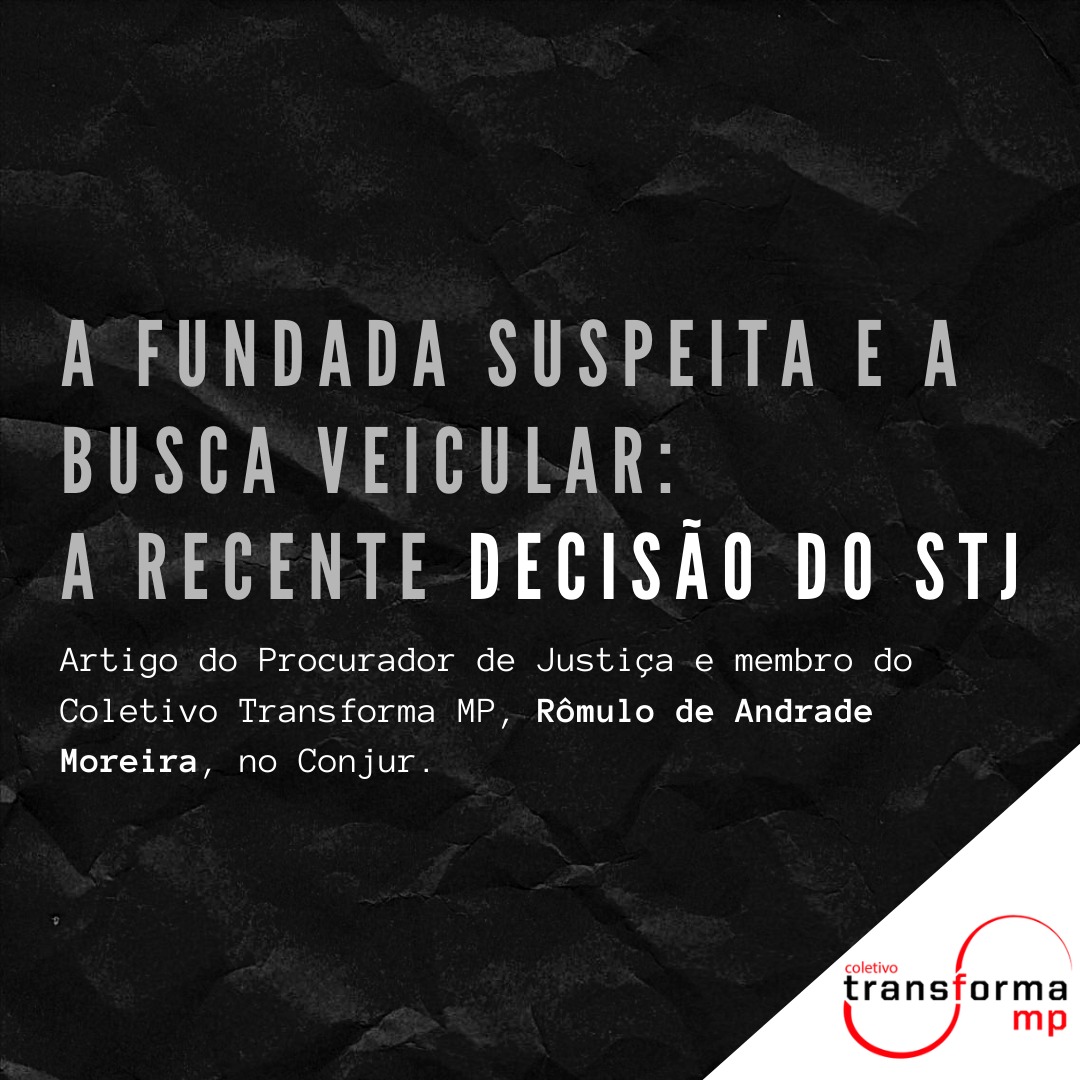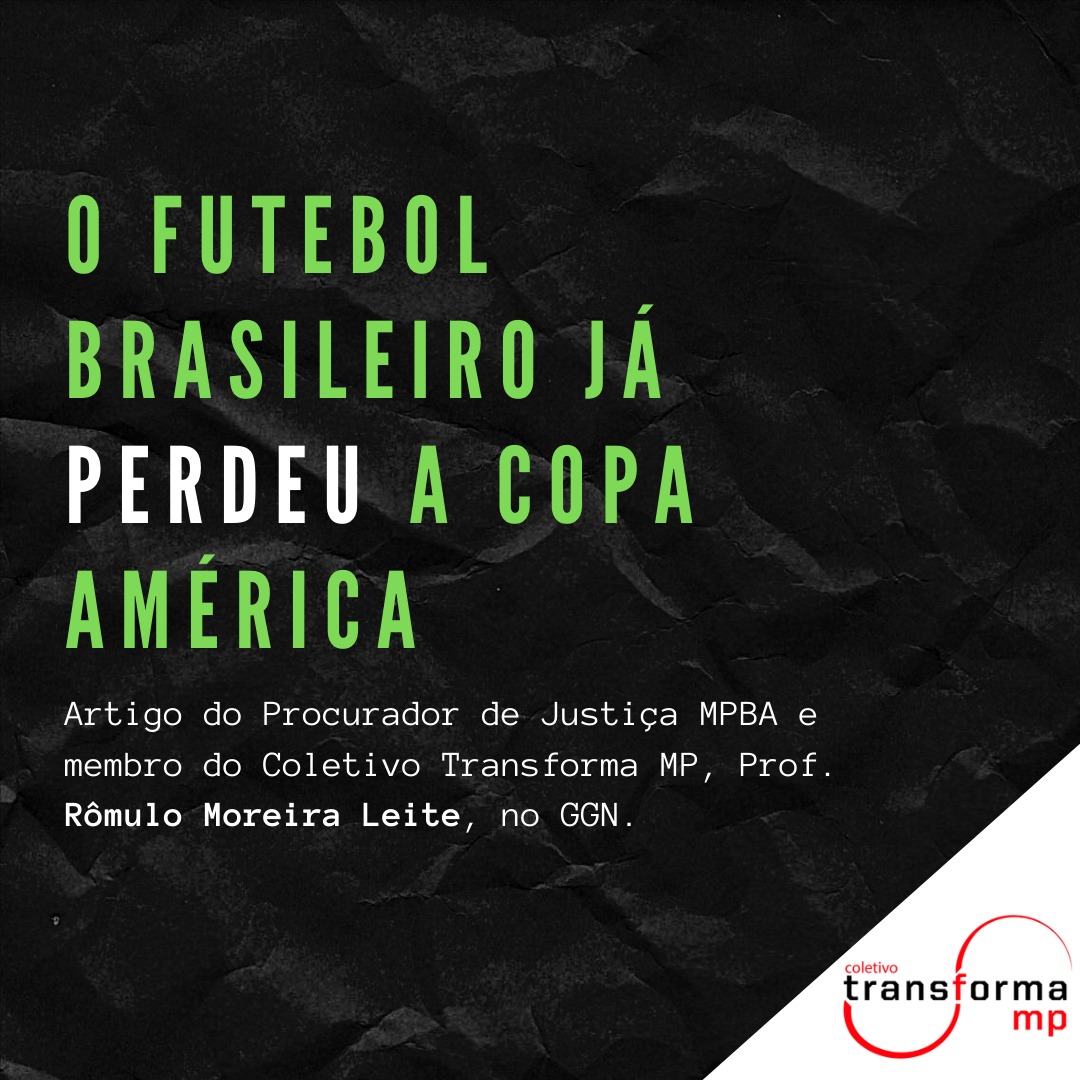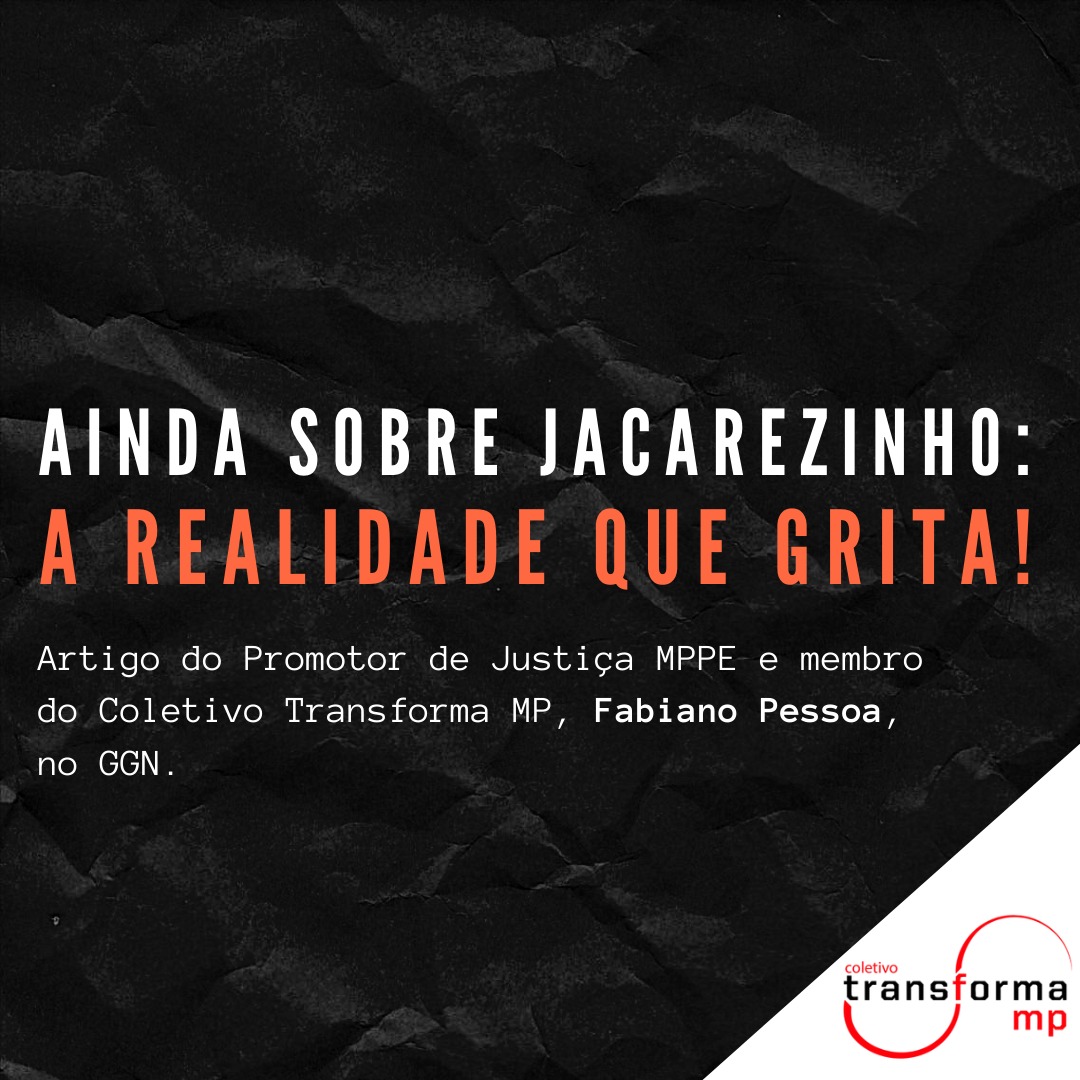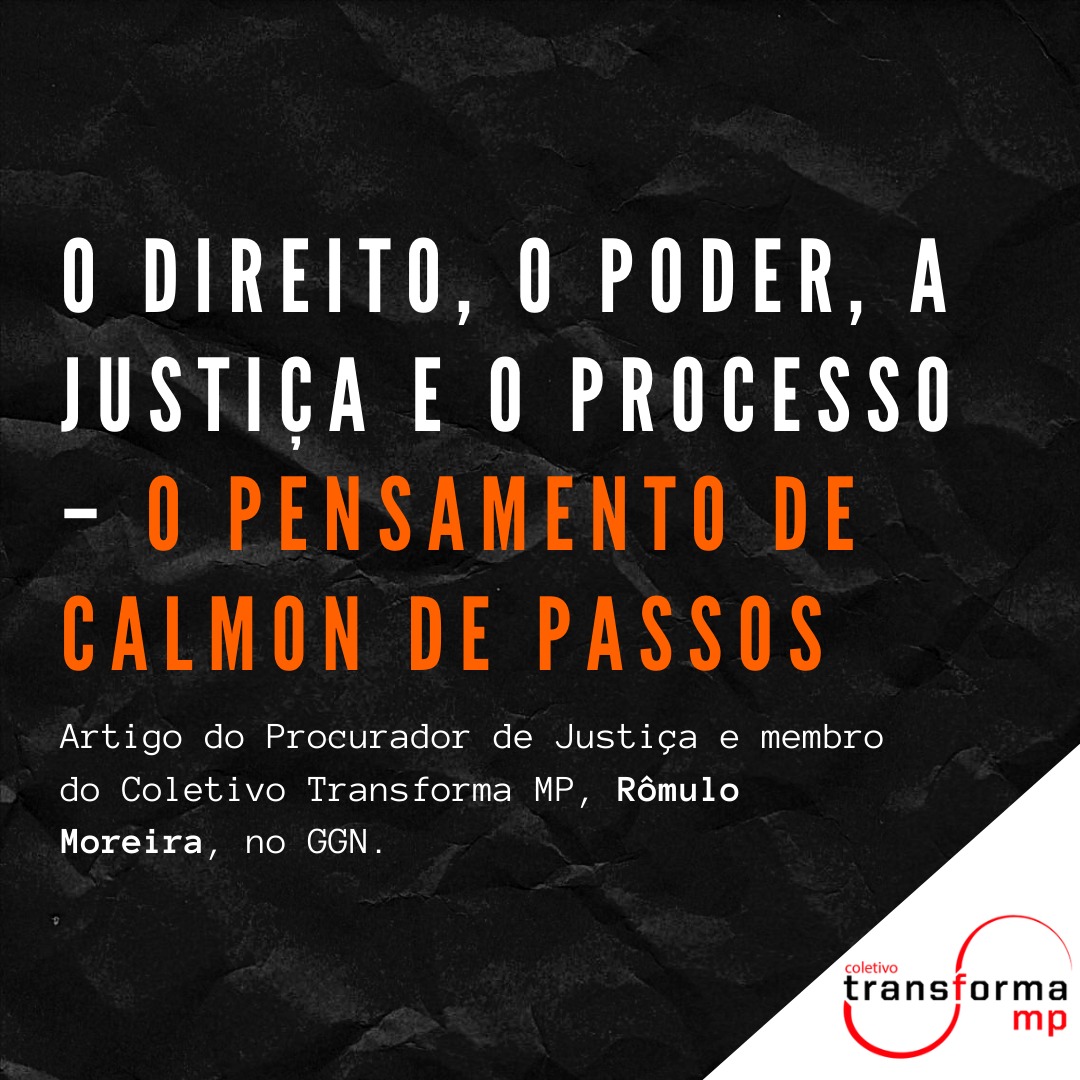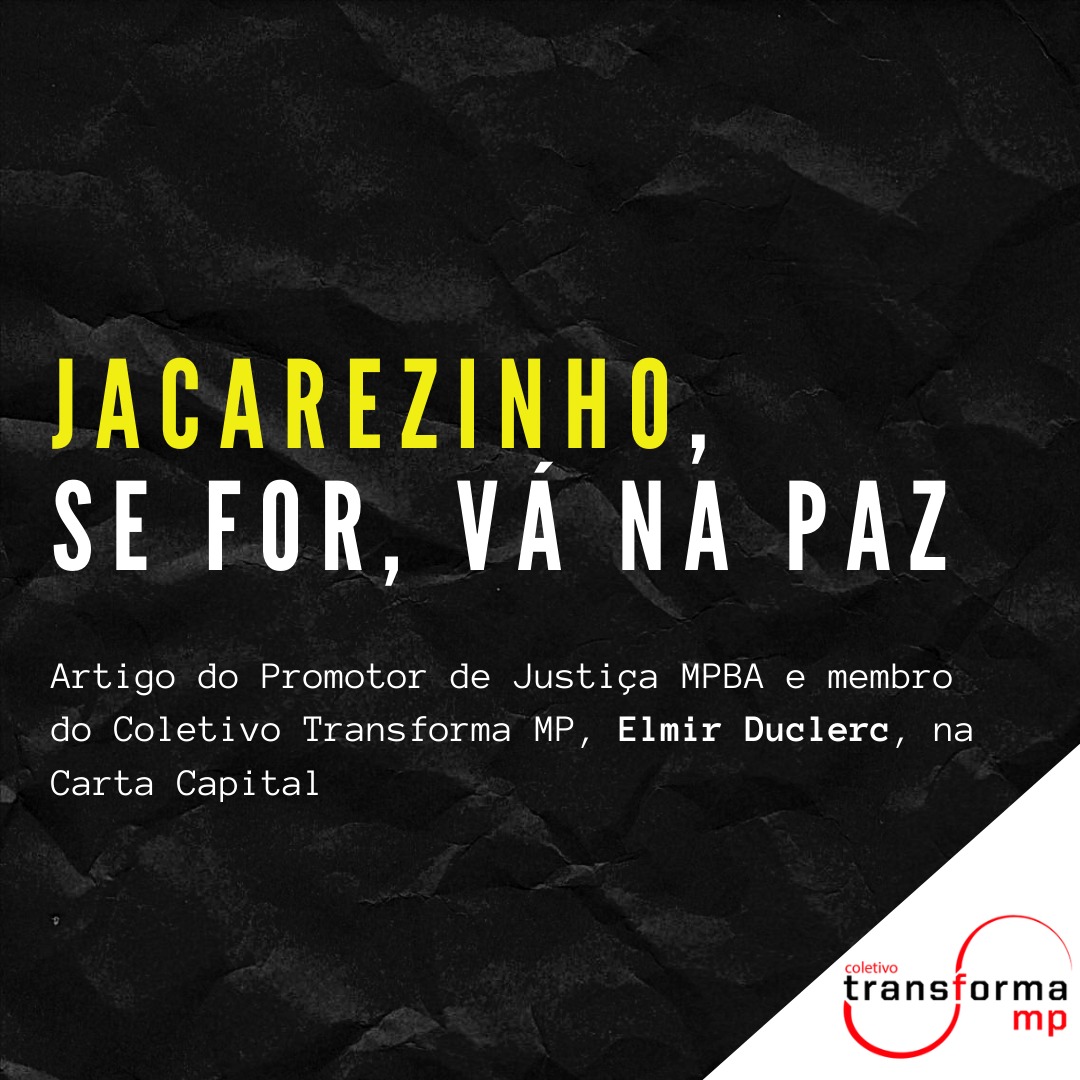Por Rômulo de Andrade Moreira no Empório do Direito
No último dia 28 de abril, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus 136961, determinando que fosse contado em dobro todo o período em que um condenado esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, possibilitando-se-lhe que alcançasse o tempo necessário para a progressão do regime prisional, além do direito ao livramento condicional.
A decisão foi tomada em observância a uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que havia realizado diversas inspeções naquela unidade prisional, a partir de uma denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre a situação degradante e desumana em que os presos ali se encontravam.
Tais vistorias resultaram numa Resolução, de 22 de novembro de 2018, proibindo o ingresso de novos presos na unidade e determinando o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local, ressalvando-se, apenas, os casos de crimes contra a vida ou a integridade física e os delitos sexuais.[1]
Com aquela decisão foi reformado um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia aplicado a contagem em dobro apenas para o período de cumprimento de pena posterior a 14 de dezembro de 2018, data em que o Brasil foi notificado formalmente da Resolução, sob o argumento que o documento não fez referência expressa ao termo inicial do seu cumprimento, adotando-se, então, a regra que “confere efetividade e coercibilidade às decisões na data de sua notificação formal.”
Em sua decisão, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou que, a partir do Decreto 4.463/2002[2] o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), aprovada em 1969.[3]
Segundo o relator, “a sentença da CIDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes, e todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença”, observando que, “ao aplicar a resolução apenas a partir da notificação oficial feita ao Brasil, as instâncias anteriores deixaram de cumpri-la, pois as más condições do presídio, que motivaram a determinação da CIDH, já existiam antes de sua publicação, não se mostrando possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação, e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado.”
Destacou-se na decisão, ainda, que, “por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, é permitido ao Estado-parte ampliar a proteção conferida por elas; logo, as sentenças da CIDH devem ser interpretadas da maneira mais favorável possível para quem teve seus direitos violados”, ressaltando-se “que as autoridades locais devem observar os efeitos das disposições da sentença internacional e adequar sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos.”
Para ele, “os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais”, concluindo “que a melhor interpretação a ser dada à resolução é pela sua aplicação a todo o tempo de pena cumprido na unidade.”[4]
Contra esta decisão favorável ao pleito da Defensoria Pública, o MP do Rio de Janeiro interpôs um agravo regimental, sob o argumento que a decisão da CIDH teria a natureza de medida cautelar provisória, motivo que impediria a produção de efeitos retroativos, sustentando essa tese no fato de a Resolução estabelecer prazos para o seu cumprimento.
Pois bem.
Na sessão do último dia 15 de junho, a 5ª. Turma julgou improcedente o recurso do MP, decidindo-se, acertadamente, pelo cômputo da pena de maneira mais benéfica ao condenado que é mantido preso em local degradante, nos termos pleiteados pela Defensoria Pública.
No julgamento da Turma, o relator observou que, nada obstante o MP ter sustentando a natureza cautelar da medida (o que limitaria os efeitos das obrigações decorrentes da Resolução para o futuro), o próprio agravante “apontou para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada das peculiaridades do caso.”
Destacou-se, outrossim, “que, por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, é permitido ao Estado-parte ampliar a proteção conferida por elas, razão pela qual as sentenças da CIDH devem ser interpretadas da maneira mais favorável possível para quem teve seus direitos violados”, ressaltando-se “que as autoridades locais devem observar os efeitos das disposições da sentença internacional e adequar sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, no intuito de diminuir violações e abreviar as demandas internacionais.”
Durante a sessão de julgamento, os ministros que compõem a Turma fizeram questão de destacar o caráter histórico da decisão. Neste sentido, por exemplo, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou “a importância e a profundidade do voto do relator, com a certeza de que se tornará um acórdão de referência no tratamento desses temas.”
Assim, com a decisão unânime, determinou-se a contagem em dobro para todo o período da prisão, e o condenado poderá alcançar o tempo necessário para a progressão de regime e o livramento condicional, exatamente como pleiteou aguerridamente a Defensoria Público do Rio de Janeiro, e nada obstante a dificuldade imposta pelo MP, ao recorrer da primeira (e monocrática) decisão. ??
Certamente, trata-se de um precedente efetivamente histórico, que levou em consideração uma Resolução emitida pela CIDH que, como se sabe, “é um órgão jurisdicional do sistema regional com competência consultiva e contenciosa para examinar casos que envolvam a denúncia de que um Estado-parte violou direito protegido pela Convenção”, conforme explica Flávia Piovesan. Para ela, se a Corte “reconhecer que efetivamente ocorreu a violação à Convenção, determinará a adoção de medidas que se façam necessárias à restauração do direito então violado, podendo ainda condenar o Estado a pagar uma justa compensação à vítima, tendo as suas decisões força jurídica vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado seu imediato cumprimento.”[5]
Analisando o Direito colombiano (evidentemente aplicável, neste caso, ao Brasil), Alejandro Aponte, destaca que “o impacto das decisões dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos no direito público interno tem lugar em vários âmbitos normativos.” E, do ponto de vista do processo penal, “este impacto reflete-se, de uma maneira mais clara, na ampliação que tem havido, primeiro pela via jurisprudencial e depois legal, dos efeitos da ação de revisão em matéria penal, contra sentenças condenatórias.”[6]
No mesmo sentido, André de Carvalho Ramos adverte que o Estado-parte “compromete-se a aceitar, como obrigatória e de pleno direito, a decisão da Corte relativa à interpretação e aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos, sob pena de responsabilidade internacional por violação de direitos humanos protegidos pela Convenção, independentemente do órgão interno responsável pela violação, possuindo tal obrigação (sobre a responsabilidade internacional estabelecida pela Convenção Americana) imperatividade mesmo na ocorrência de sua denúncia por um Estado contratante.”[7]
Assim, como escreveu Häberle, tais órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos, “têm a tarefa de fazer efetivos os direitos fundamentais, motivo pelo qual deve se fazer todo o possível até atingir a ´concreta utopia`, para ´propagar` e ´programar` os direitos fundamentais em escala mundial, a fim de estabelecer uma necessária ´política dos direitos fundamentais`.”[8]
De toda maneira, além de se referir expressamente à Resolução da CIDH e dos seus efeitos no Direito interno, no julgamento da Turma também foi destacado, e certamente primeira vez na Corte Superior, o princípio da fraternidade. A propósito, já no seu preâmbulo, a Constituição brasileira faz referência simbólica a uma “sociedade fraterna”.
Neste sentido, o Ministro Joel Ilan Paciornik ressaltou que, “numa hipótese onde se detecta flagrante violação a direitos humanos pelas condições degradantes e desumanas existentes em determinados estabelecimentos prisionais, a invocação do Princípio da Fraternidade é extremamente procedente”, entendimento reforçado pelo Ministro João Otávio de Noronha para quem o voto do relator “consagra um princípio já agasalhado na Constituição Federal (o Princípio da Fraternidade), em que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”
No entanto, não é a primeira vez na jurisprudência brasileira que o princípio da fraternidade serve de base para uma decisão judicial, ao menos na Suprema Corte; cita-se, por exemplo, o julgamento da ADPF 811, no qual o Ministro Gilmar Mendes, relator, destacou tal princípio como uma verdadeira categoria jurídica, especialmente para compatibilizar em casos concretos de aparentes conflitos entre direitos fundamentais.
Com efeito, neste julgamento (o caso Ellwanger), o relator consignou em seu voto que “no limiar do século XXI, liberdade e igualdade deveriam ser (re)pensadas segundo o valor fundamental da fraternidade, de modo que a fraternidade poderia constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais problemas vividos pela humanidade em tema de liberdade e igualdade. A dialética entre direitos e deveres, entre empatia e imparcialidade, entre a justiça e a misericórdia, entre legalidade e bem comum que compõem o conceito da fraternidade nos mostra o caminho para encontrar a melhor solução jurídica diante das oposições, dicotomias e contradições envolvendo o momento presente.” Aliás, não foi a primeira vez que o Ministro Gilmar Mendes referiu-se ao princípio da fraternidade, pois já o houvera feito no HC 82.424 e na ADPF186 (ver adiante a nota 12).
Ainda no STF, pode ser referida a ADI 4277, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, na qual se consignou “que a sociedade brasileira, como um todo, estrutura-se com fincas na fraternidade, no pluralismo e na proibição do preconceito, conforme os expressos dizeres do preâmbulo da nossa Constituição do inciso IV do seu art. 3º.”
Faz-se referência, outrossim, à ADI 5357, quando o Ministro Teori Zavascki afirmou a necessidade de se conviver “num ambiente de solidariedade e fraternidade.” No mesmo sentido, e numa ação da mesma natureza (ADI 4388), a Ministra Rosa Weber constou no seu voto que “a sociedade fraterna e o princípio da dignidade humana estão em relação de estruturação mútua.”
Na doutrina brasileira, o princípio da fraternidade foi também abordado por Ayres Britto, segundo o qual “a Fraternidade é o ponto de unidade a que se chega pela conciliação possível entre os extremos da Liberdade, de um lado, e, de outro, da Igualdade. A comprovação de que, também nos domínios do Direito e da Política, a virtude está sempre no meio (medius in virtus). Com a plena compreensão, todavia, de que não se chega à unidade sem antes passar pelas dualidades. Este, o fascínio, o mistério, o milagre da vida.”[9]
Sobre o tema, faz-se, ainda, referência à obra de Reynaldo Soares da Fonseca (o ministro relator do caso que ora se comenta), onde se afirma que “a redescoberta do princípio da fraternidade apresenta-se como um fator de fundamental importância, pois a experiência e metodologia concernentes à fraternidade são caracterizadas pelos seguintes elementos: compreensão da fraternidade como experiência possível; o estudo e a interpretação da história, à luz da fraternidade; a colaboração entre teoria e prática da fraternidade na esfera pública; a interdisciplinaridade dos estudos; e o diálogo entre culturas, abrindo-se possibilidades atuais e futuras, e ganhando universalidade perante a humanidade e a própria condição humana.”
Segundo o autor, já no âmbito do sistema de justiça, “revela-se coerente e adequada a utilização da categoria jurídica da fraternidade como chave analítica normativamente válida para enfrentar, por exemplo, a temática das ações afirmativas orientadas ao objetivo de remediar desigualdades históricas entre grupos étnicos e sociais; ademais, precisamos de um Sistema de Justiça eficiente e célere, que acompanhe as transformações sociais, mas que, ao mesmo tempo, garanta os direitos humanos fundamentais, propiciando sempre a abertura para uma sociedade fraterna.”
E, no âmbito do Direito criminal, “o desafio da fraternidade é ainda maior, pois as situações vivenciadas (gravidade dos crimes, rancor ou revolta da vítima, reação da comunidade, etc.) tornam mais distantes a vivência fraterna. Todavia, mesmo na esfera penal, é possível a construção de uma Justiça que planta e desenvolve a semente de uma sociedade fraterna, através da denominada justiça restaurativa, que não ignora as exigências de reparação da ordem violada. A pena humanizada não é, em rigor, violência destinada a dominar quem é punido. A execução da pena não pode inviabilizar a possibilidade de reconciliação. O princípio da fraternidade é viável no Direito Penal e é semente de transformação social.”[10]
Sem dúvidas, e para concluir, a decisão da 5ª. Turma do STJ trata-se de um histórico precedente a ser obrigatoriamente observado, doravante, pelos tribunais brasileiros, atentando-se, porém, para as lições sempre oportunas de Marcelo Neves, quando adverte que “na jurisdição constitucional brasileira, problema persistente em relação ao manuseio dos princípios constitucionais, da técnica da proporcionalidade e do modelo de ponderação, assim como também ao emprego de outras estratégias argumentativas, reside no fato de que a decisão e os argumentos utilizados para fundamentá-las tendem a limitar-se ao caso concreto sub judice, mas não oferecem critérios para que se reduza o ´valor surpresa` das decisões de futuros casos em que haja identidade jurídica dos fatos subjacentes.”[11]
Notas e Referências
[1] Leia aqui o inteiro teor da Resolução: https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_03_por.pdf. Acesso em 19 de junho de 2021.
[2] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4463.htm#:~:text=Promulga%20a%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Reconhecimento%2c22%20de%20novembro%20de%201969. Acesso em 19 de junho de 2021.
[3] Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em 19 de junho de 2021.
[4] Veja aqui a íntegra da decisão: https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=125604537&tipo_documento=documento&num_registro=202002844693&data=20210430&tipo=0&formato=PDF. Acesso em 19 de junho de 2021.
[5] PIOVESAN, Flávia. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, pp. 42 e 45.
[6] APONTE, Alejandro. Sistema Interamericano y Derecho Público Interno: Ampliación de los Efectos de la Acción de Revisión en el Caso de Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Colômbia: Fundación Konrad Adenauer, 2013, p. 166.
[7] RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos: análise dos sistemas de apuração de violações dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. São Paulo/Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 228 e 229.
[8] HÄBERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, pp. 359 e 360.
[9] BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 98.
[10] FONSECA, Reynaldo Soares. O princípio constitucional da fraternidade: seu resgate no sistema de justiça. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2019.
[11] NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules – Princípio e Regras Constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2014, pp. 198 e 199. Nesta obra, inclusive, o autor faz referência ao HC 82.424/RS (caso Ellwanger, acima referido), quando se negou “o caráter absoluto à liberdade de expressão para afirmar a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme um modelo de sopesamento”, exatamente contrário do que ocorreu no julgamento da ADPF 130, quando prevaleceu a tese que “a liberdade de expressão não é norma-princípio e, portanto, não é sopesável.” (obra citada, p. 197).
Imagem Ilustrativa do Post: DSC_5457.jpg // Foto de: Robert // Sem alterações
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/rrachwal/26017459914/
Licença de uso: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/