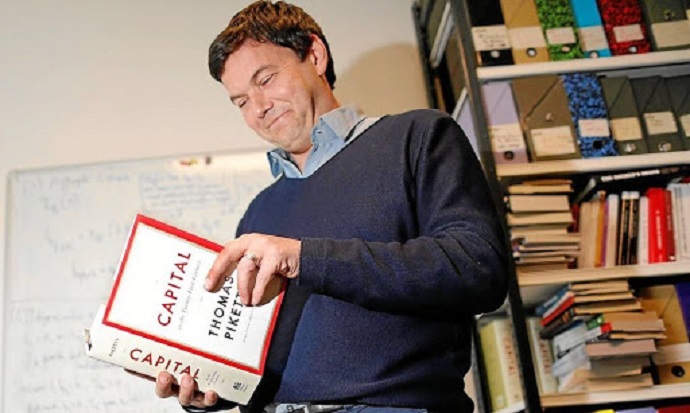Nada obstante, o escriba deixa claro, desde já, ser favorável à interpretação constitucional que permite, dentro de balizas normativas, a participação direta do membro do Ministério Público nos assuntos públicos de interesse da Nação
Por Paulo Brondi* no GGN
Debate aparentemente esquecido no âmbito do Ministério Público é aquele a respeito da possibilidade de o membro (promotor, procurador da república ou procurador de justiça) se candidatar a cargos eletivos (Executivo ou Legislativo). Aparentemente esquecido porque, sobrevinda a Emenda Constitucional nº 45/2004, o artigo 128, § 5º, inciso II, “e”, da Constituição Nacional ganhou nova redação, vedando-se o exercício de atividade político-partidária, sem exceções.
Ganhou foro, com aparência de assunto encerrado, portanto, a tese de que ao membro do MP que ingressou após a Nova Carta está vedada a possibilidade de afastamento da carreira para concorrer a cargo eletivo.
Todavia, a questão não parece – ou não deveria – estar relegada ao arquivo. Isso porque a pergunta que urge ainda sem resposta definitiva é: a intepretação constitucionalmente correta do mencionado artigo é aquela no sentido da vedação total? Essa interpretação sobrevive a um simples teste de convencionalidade perante o Pacto de San José da Costa Rica? Está ela hoje compatível às mais comezinhas ideias de democracia, cidadania e participação? Está compatível com o direito que todo cidadão tem de ser votado (capacidade eleitoral passiva)?
Neste despretensioso escrito, tentarei trazer à baila o tema novamente, agitando novos(?) argumentos. Serão trazidas ideias colhidas por leitura de algumas fontes, apontando-se prós e contras. Ressalte-se que, de conversas com respeitáveis colegas do MP Brasil afora, pude reunir opiniões favoráveis e contrárias, todas com excelentes argumentos.
Nada obstante, o escriba deixa claro, desde já, ser favorável à intepretação constitucional que permite, dentro de balizas normativas, a participação direta do membro do Ministério Público nos assuntos públicos de interesse da Nação.
UM INTROITO
De saída, cumpre esclarecer o panorama constitucional vigente hoje sobre o tema.
Atualmente, o artigo 128, § 5º, inciso II, “e”, da Carta Fundamental está assim:
II – as seguintes vedações:
[…]
- e) exercer atividade político-partidária;
A nova redação, recorde-se, ganhou vida após a EC nº 45/2004, que retirou do texto da alínea citada o trecho “salvo exceções previstas em lei”. Ao membro do Ministério Público vedava-se, então, a possibilidade de concorrer a cargos eletivos?
Criada estava, assim, a cizânia.
CIDADANIA, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO
Obviamente, este texto não pretende esgotar o tema e nem sequer será um libelo constitucional acerca deste. Serão tratadas, portanto, questões constitucionais de maneira sutil para não se estender mais que o necessário.
Lançando mão do ensinamento do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, pode-se afirmar que cidadania “é um status ligado ao regime político. Assim, é correto incluir os direitos típicos de cidadão entre aqueles associados ao regime político, em particular entre os ligados à democracia”. Ainda conforme o ilustre Mestre, trata-se de status vinculado aos direitos políticos, ou seja, ao poder de participar do processo governamental. Assim, é possível definir a cidadania – sem a pretensão de esgotá-la – como a capacidade, numa democracia representativa plena, de eleger e ser eleito – ou submeter-se ao processo eletivo.
Com Aristóteles, aprendemos que o “homem é, por natureza, um animal político” e que essa natureza “só é realizável pela comunidade social e política”, sendo a política a “atualização da natureza humana”. Para o grande pensador, a liberdade era um princípio fundamental da forma democrática de governo e só nesta poderia ser desfrutada, sendo seu objetivo supremo; e para ele, desse modo, um dos princípios da liberdade era que todos pudessem se revezar no governo, o que, em outras palavras, significa dizer que a cidadania – direito de eleger e ser eleito – deve ser estendida ao maior número possível de pessoas.
Por sua vez, o filósofo John Stuart Mill, em suas lições, afirmou:
“Não há nenhuma dificuldade em mostrar que a melhor forma ideal de governo é aquela em que a soberania […] pertence ao conjunto inteiro da comunidade, em que todo cidadão não só tem voz no exercício da soberania última como também é chamado, pelo menos de vez em quando, a participar efetivamente do governo com o desempenho pessoal de alguma função pública, local ou geral […] Evidencia-se que o único governo que pode satisfazer plenamente todas as exigências do Estado social é o que conta com a participação de todo o povo; em que qualquer participação, mesmo na menor função pública, é útil; em que a participação em todos os lugares deve ser tão ampla quanto o permitir o grau geral de melhoramento da comunidade; e que nada é tão supremamente desejável quanto a admissão de todos a uma parcela do poder soberano do Estado” (destaquei).
Nada muito diferente nos contou o historiador francês Numa Denis Fustel de Coulanges, em seu magnífico “A cidade antiga”:
“Se lembrarmos, aliás, que, para os gregos, o Estado era uma potência absoluta e nenhum direito individual lhe resistia, compreenderemos que imenso interesse havia para cada homem, mesmo para o mais humilde, em ter direitos políticos, ou seja, fazer parte do governo. Como o soberano coletivo era tão onipotente, o homem só podia ser alguma coisa se fosse membro desse soberano” (destaquei).
Por derradeiro, outro nome de escol na história mundana, Alexis de Tocqueville, pensador político francês famoso por suas análises sobre a Revolução Francesa, consignou em seu livro “A democracia na América”, de 1835:
“[…] o meio mais poderoso, e talvez o único que nos reste, de interessar os homens pela sorte de sua pátria seja fazê-los participar de seu governo. Em nossos dias, o espírito de cidadania me parece inseparável do exercício dos direitos políticos […] Não digo que seja fácil ensinar todos os homens a se servir dos direitos políticos; digo apenas que, quando isso é possível, os efeitos resultantes são grandes” (destaquei).
Recolhe-se de todas essas lições clássicas, portanto, que não se pode falar em gozo efetivo dos direitos políticos se uma de suas metades estiver subtraída.
Não se ignora, é óbvio, que nossa Constituição estabeleceu inelegibilidades justificadas. É o exemplo, pois, do analfabeto e do condenado criminal. Nessas situações, é natural, qualquer cidadão médio concordaria com as restrições, pois mais que justificadas.
Todavia, certo é que, no decorrer da História, os grandes pensadores universais assentaram a inafastável e verdadeira noção de que num completo regime democrático todo cidadão de um território nacional detém o direito de, além de votar, ser votado e de participar ativamente da construção governamental do bem comum.
CIDADANIA PELA METADE?
Se firmada está a ideia ancestral de que a democracia plena só é alcançada se o povo goza de plena cidadania, estando ínsito o valor da participação no processo governamental, seria então correto afirmar que o membro do Ministério Público, não podendo exercer o direito político pleno, é cidadão pela metade?
Ouso dizer que sim!
E aqui reside, de saída, um fato curioso: para ser aprovado em concurso público de ingresso na carreira, o candidato deve, antes de tudo, estar na plenitude de seus direitos políticos, é dizer, ser cidadão.
Lição escorreita apresentou-nos Montesquieu, ao ensinar que na democracia somente se aceita a supressão da igualdade entre os cidadãos em proveito e fortalecimento da própria democracia. Ora, a democracia implica justamente inclusão, não exclusão. É da História, e o culto leitor bem sabe, que a democracia se construiu sempre pelo seu caráter inclusivo, não pelo contrário. Votar e ser votado são dois lados da mesma moeda denominada cidadania, e a exclusão injustificada de qualquer um deles decerto desfigura irremediavelmente o conceito. Aliás, a ideia de exclusão obviamente vai de encontro à própria ideia democrática.
O renomado Professor de Ciência Política, Robert Dahl, preceitua:
“Entre os adultos, não há ninguém tão inequivocamente mais bem preparado do que outros para governar, a quem possa confiar a autoridade completa e decisiva de governar o Estado […] Com a exceção de uma fortíssima demonstração em contrário, em raras circunstâncias, protegidas por legislação, todos os adultos sujeitos às leis do Estado devem ser considerados suficientemente bem preparados para participar do processo democrático de governo do Estado” (destaquei).
Que Nação plenamente democrática e civicamente progressista poderia prescindir, por exemplo, dos serviços públicos da classe dos professores, dos advogados, dos médicos, dos cientistas, dos engenheiros, é dizer, de pessoas experimentadas em sua vida profissional que podem, a seu modo, contribuir para o interesse geral da coletividade? Qualquer do povo concordaria com a restrição da capacidade eleitoral passiva do condenado criminalmente ou de um incapaz de cuidar de si próprio, mas diria o mesmo em relação ao concidadão tolhido desse direito simplesmente por ocupar uma função pública – no caso, de relevo? Mais seguro apostar que não.
Se hoje não mais se admitiria que apenas uma casta recebesse o poder de ser eleita (de governar), contrario sensu não se pode igualmente admitir que esta ou aquela classe social (ou de profissionais) esteja privada desse poder. Como bem observou Jacques Rancière: “A democracia não é um tipo de constituição nem uma forma de sociedade […] É simplesmente o poder próprio daqueles que não têm mais título para governar do que para ser governados”.
Uma Nação que não pretenda admitir nos seus cargos públicos mais altos, sobretudo naqueles alcançados pelo voto popular, o maior número de cidadãos possível, não pode pretender-se democrática.
E é na democracia que se funda a Nova República, iniciada pós-ditadura militar, com a eleição de Tancredo Neves, um democrata visceral.
QUESTÃO DE IGUALDADE
Eis a questão de suma importância a se desvelar: a interpretação proibitiva do artigo 128, § 5º, II, “e”, fere o princípio da igualdade?
Não há muitas dúvidas que sim, e fere de morte.
Interpretando-se proibitivamente o quanto contido na norma prefalada, se ensejará a olhos vistos uma situação injustificada de diferenciação entre cidadãos iguais em liberdades políticas. Objetar-se-ia tal afirmação apontando-se que nem todos do povo estão em condições de igualdade. Entretanto, e com apoio na doutrina de Bobbio, citando Filippo Burzio, pode-se concluir que a lei da desigualdade (tratar os desiguais de maneira desigual) não se aplica em matéria de direitos políticos.
Desse modo, todos detêm plenos direitos políticos, não importando a condição econômica, social, a religião, o sexo, a cor e, muito menos, a ocupação profissional.
John Rawls, em “O liberalismo político”, aborda desta forma a questão, enfocando o valor equitativo das liberdades políticas:
“[…] o valor das liberdades políticas para todos os cidadãos, seja qual for sua posição social ou econômica, deve ser aproximadamente igual, ou pelo menos suficientemente igual, no sentido de que todos tenham uma oportunidade equitativa de assumir um cargo público e influenciar o resultado de decisões políticas” (destaquei).
Note-se, neste ponto, que nem mesmo o brasileiro naturalizado está privado de sua cidadania passiva, pois, à exceção – justificada – dos cargos listados no artigo 12, §3º, da Constituição Nacional, ele pode ser eleito e exercer livremente todos os demais. Pode, portanto, ser deputado federal, prefeito ou, pasme, até Ministro da Justiça. Um exemplo notório: o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, alemão naturalizado brasileiro, que chegou à presidência da Corte.
De outra banda, os membros da Defensoria Pública, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, assim como o Ministério Público, não sofreram semelhante restrição. E há que se sublinhar que nenhuma das instituições ostenta primazia sobre a outra, sendo de rigor também ressaltar que os membros de ambas as instituições possuem basicamente as mesmas garantias e prerrogativas. Não se identifica, portanto, de forma racional, qual o motivo para a distinção de tratamento acerca da proibição da capacidade eleitoral passiva.
Interessa, por fim, anotar que nem sequer os militares viram-se coarctados em sua capacidade eleitoral passiva, haja vista que o Constituinte originário houve por bem preservar-lhes o direito de votar e ser votado. Aliás, e demonstrando a tendência democrática de inclusão política do Constituinte de 1988, a partir de então mesmo os cabos e soldados das Polícias Militares receberam o direito político pleno – até ali não podiam votar.
Nesse caso específico, os militares – por mais estranho que possa parecer – são elegíveis, sob as condições determinadas pelo art. 14, §8º, da Lei Fundamental, sendo certo que, aquele com mais de 10 anos de serviço, passará à inatividade (reserva ou reforma) apenas se eleito. Somente no caso do inciso I (menos de 10 anos de serviço), segundo corrente doutrinária e precedente do Supremo Tribunal Federal (RE º 279.469/RS), o militar após o registro da candidatura deverá ser desligado da carreira.
Inexistem dúvidas de que, em relação aos militares, há regras limitativas, claro, mas não proibitivas.
Relembrando a lição de Montesquieu, no caso, a desigualdade em face dos outros cidadãos experimentada pelos membros do parquet aproveita a democracia? É evidente que não!
Tal situação, pelo contrário, gera inegável desequilíbrio representativo e odiosa distinção no trato institucional.
O QUE É ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA?
Prosseguindo, calha tentar decifrar o real significado da expressão “atividade político-partidária”, condição primeira para desenvolver o ponto de vista defendido.
Antes, importa sublinhar que o termo contempla a junção de dois adjetivos: “político” e “partidária”, formando uma nova expressão, que, portanto, não pode ser lida como “atividade política” e “atividade partidária”, em separado. Valho-me de um exemplo primário: “um copo de leite” tem acepção distinta de “um copo-de-leite”, haja vista que, lá, copo é copo, leite é leite; nesta, designamos uma conhecida flor. O hífen, assim, concede uma inédita roupagem ao termo.
Por conseguinte, o que se veda não é, frise-se, a atividade política, mas a atividade político-partidária. Abordo esse aspecto porque a Lei Magna não veda a atividade política por si só, consubstanciada no exercício do mandato eletivo; tanto que, se admitidas as candidaturas avulsas pelo STF, nenhum óbice – e aí não haveria mesmo nenhuma dúvida – existiria ao afastamento para se candidatar, pela inexistência de filiação partidária e atividade partidária.
E, aqui, releva abordar um caso recente em que houve parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral perante o Tribunal Superior Eleitoral (RECURSO ORDINÁRIO Nº 0600102-84.2018.6.27.0000) envolvendo o membro do Ministério Público Federal Mário Lúcio Avelar, que procurava o registro de sua candidatura a governador do Estado do Tocantins, em 2018. A ementa do parecer é a que segue:
Eleições suplementares. Governador de Estado. Registro de candidatura. Membro do Ministério Público. Afastamento temporário. Filiação partidária. Distinção entre atividade político-partidária e atuação político-eleitoral.
A atividade político-partidária a que se refere o art. 128, § 5º, II, “e”, da Constituição da República não se confunde com a atuação de conteúdo político-eleitoral, permitida a todos os cidadãos. A atividade político-partidária compreende o envolvimento dos diversos atores políticos no seio das mais variadas agremiações partidárias, participando de atividades como a sua constituição, formação ideológica, propagação das suas ideias, integração em seus quadros dirigentes, subordinação a diretrizes partidárias e submissão a disciplina do partido.
É certo que dos membros da Magistratura se espera uma independência institucional e pessoal que não seja exercida com um dever de sintonia aos ditames partidários da grei a que filiado, algo próprio do exercício do poder em cargos eletivos. Tal raciocínio, contudo, não deve impedi-los do gozo dos direitos políticos, que compreendem a capacidade eleitoral ativa e passiva.
Se filiado (apenas para candidatar-se) não deve o magistrado exercer seu cargo na magistratura. Se em exercício de seu cargo na magistratura, não deve estar simultaneamente exercendo atividade político-partidária.
A Constituição ainda quando proíbe a filiação partidária não cassa a elegibilidade. Aos que se impede atividade político-partidária ou se lhes abre a via da candidatura avulsa (fechada pelo legislador, mas sob apreciação do Supremo Tribunal Federal) ou se lhes permite a filiação apenas e tão somente para concorrer a cargo eletivo com afastamento do exercício de suas funções.
A Constituição brasileira não condiciona a elegibilidade ao abandono da carreira militar ou da carreira de magistrado.
A interpretação do direito, e da Constituição, não se reduz a singelo exercício de leitura dos seus textos, compreendendo processo de contínua adaptação à realidade e seus conflitos. A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas
não abrangidas por emenda constitucional demanda a análise de cada caso concreto à luz do direito enquanto totalidade. A exceção é o caso que não cabe no âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. Ela está no direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de direito positivo. Ao Judiciário, sempre que
necessário, incumbe decidir regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo não se afasta do ordenamento.
O art. 128, § 5º, II, “e”, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado em conformidade com o texto constitucional e sob o filtro hermenêutico das Convenções Internacionais, garantindo-se aos membros do Ministério Público o exercício da capacidade eleitoral passiva, desde que regularmente afastados da sua função, nos termos da Lei Complementar n 75.
Parecer pelo provimento do recurso ordinário. (destaquei)
E, do corpo do esplêndido parecer, extrai-se:
- Ao ver do Ministério Público Eleitoral, o recorrente nunca possuiu atividade político-partidária. O recorrente, pretendendo exercitar sua capacidade eleitoral passiva, licenciou-se de seu cargo público (nos termos da Lei Complementar n 75, art. 237, V), mudou-se para outro Estado da Federação e, porque a lei não aceita candidaturas avulsas, filiou-se a partido político para ser candidato.
- Esse comportamento é “atividade político-eleitoral”, que não se confunde com “atividade político-partidária”. Entrar em um partido apenas e tão somente para poder ser candidato, nos termos da lei, não é atividade político-partidária, é somente atividade eleitoral.
- O legislador constituinte ter afastado magistrados da vida interna dos partidos políticos é uma opção de organização do Estado e dos Partidos literalmente colocada no texto constitucional. É a dita vedação a atividade político-partidária.
- Já a colocação de magistrados fora da possibilidade de serem candidatos em eleições livres é muito mais um preconceito para com magistrados e a política, e uma violação ao acesso de todos os cidadãos aos cargos eletivos, do que uma exegese constitucional. O constituinte não baniu magistrados das eleições, apenas interditou-lhes a atividade político-partidária.
- Aos magistrados do Ministério Público, o constituinte originário permitira que o legislador pudesse vir a criar exceções à interdição da atividade político-partidária.
- Filiou, pois, o recorrente atempadamente para o pleito de 2018 a um Partido Político, sem vínculo antecedente a ele, sem vida partidária, sem militância, e sem atividade político-partidária. O fez exclusivamente para poder desenvolver atividade político-eleitoral.
- A vedação à atividade político-partidária não alcança a elegibilidade. Não
impede a atividade político-eleitoral.
- Com efeito, a resposta à presente demanda parte, inicialmente, da correta
interpretação a ser empregada à expressão “atividade político-partidária”, em
contraposição à atividade político-eleitoral.
- De um lado a atividade político-partidária compreende o envolvimento dos diversos atores políticos no seio das mais variadas agremiações partidárias, participando de atividades como a sua constituição, formação ideológica, propagação das suas ideias, integração em seus quadros dirigentes, subordinação a diretrizes partidárias e submissão a disciplina do partido.
- Tal expressão não se confunde com as atividades de conteúdo político-eleitoral,
que não são constitucionalmente vedadas aos membros da Magistatura Judicidial e da Magistratura do Ministério Público.
(destaquei)
Cabe salientar, neste passo, que o STF na ADI 1377 (a que farei menção mais abaixo) decidiu que somente se permite a filiação partidária havendo o afastamento das funções do cargo, com fulcro no art. 70 da Lei dos Partidos Políticos, entendimento que parece escorreito, dado que incompatível o exercício de funções ministeriais estando o membro atrelado a agremiação partidária – e suas respectivas responsabilidades. No julgado, os Ministros entenderam que a filiação partidária está englobada no conceito de atividade político-partidária.
A meu sentir, permissa venia, não é a melhor proposição considerar a mera filiação partidária como parte do conceito de atividade político-partidária, uma vez que se trata de conceitos distintos.
A atividade político-partidária implica, conforme a composição dos nomes já induz, atuação de dedicação (por isso o verbo exercer, que denota compromisso, devoção, empenho, constância, militância profissional) a determinado partido político e seu respectivo programa. Pode-se pensar em exemplos práticos: exercício de cargos ou funções na estrutura partidária, ativa (e não mera) participação em atos públicos ou privados do partido e engajamento público ou privado para formação, promoção ou financiamento da agremiação, fidelidade e compromisso com as orientações gerais do partido.
Também, conforme conceito extraído do site do Senado Federal, em “Glossário”, considera-se atividade político-partidária a “atividade cujo objetivo, ainda que indireto, seja a promoção de uma pessoa, um partido político ou uma ideologia partidária”.
Note-se que, para algumas dessas atividades, não é necessária a filiação partidária, razão por que não se deve confundir esta com aquela. Aliás, atividade político-partidária nem sequer implica necessariamente concorrer a cargo eletivo. O membro do Ministério Público pode, por exemplo, pretender engajar-se durante certo tempo na constituição de um novo partido político, mas para tanto deverá afastar-se (veja-se que neste caso hipotético não há menção a cargo eletivo).
O que apenas se admite é a equiparação da filiação partidária à atividade político-partidária unicamente para o fim de determinar o afastamento do membro que pretenda filiar-se a partido político.
E se antolha também indubitável que muitas ações não se devem confundir com atividade político-partidária, p.ex: inclinação pessoal por determinada ideologia, apoio ou repúdio público a determinada(s) figura(s) política(s), elogios ou críticas a governos, doação de valores a agremiação partidária (isto não se confunde com engajamento para seu financiamento), colaboração eventual ao partido (uma palestra ou um artigo de opinião, p.ex.).
QUAL INTERPRETAÇÃO DEVE PREVALECER?
Ingressamos agora no ponto, a meu sentir, mais importante do escrito: qual deve ser a leitura correta do artigo 128, § 5º, II, “e”?
Apenas de maneira rápida, de bom tom mencionar um diploma internacional de suma relevância para essa resposta, e trata-se do Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no ordenamento pátrio em 1992 e que prevê em seu corpo:
Artigo 1º – Obrigação de respeitar os direitos
- Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.
[…]
Artigo 23 – Direitos políticos
- Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
- a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;
- b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e
- c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.
- A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal.
Artigo 29 – Normas de interpretação
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de:
- a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
- b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados;
- c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo;
- d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.
(destaquei)
O mencionado pacto, conforme se sabe, tem status supralegal, invalidando por meio de um “filtro de convencionalidade”, desse modo, toda legislação infraconstitucional que imponha restrições não contempladas por ele ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Não está, assim, autorizada diferenciação em razão de exercício de profissão ou função.
Lembre-se que o Constituinte originário não vedou completamente a atividade político-partidária ao membro do Ministério Público, ressalvando que ela poderia ser exercida na forma da lei. Para tanto, bastaria que o interessado se afastasse do cargo, afastando-se de suas funções cotidianas. Desse modo, optou o Constituinte originário por preservar a capacidade eleitoral passiva do promotor/procurador da república/procurador de justiça.
A propósito, da leitura da ATA DA 322ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSITUINTE, de 23 de agosto de 1988, mais precisamente à página 301, recolhe-se que o então Deputado Federal Michel Temer, ilustrado professor de Direito Constitucional, referindo-se à magistratura, esboçou sua preocupação com fato de que, ao não poder exercer atividade político-partidária, haveria restrição no que toca à cidadania do cidadão-magistrado.
Mais adiante, no mesmo dia, o Dep. Harlan Gadelha (p. 370) teve a palavra e defendeu a total vedação ao exercício de atividade político-partidária aos membros do MP, eliminando-se do texto original a expressão “salvo exceções previstas em lei”, requerendo que a permissão, já aprovada em primeiro turno, fosse derrubada. O Deputado concordava, unicamente, que aos integrantes à época deveria ser assegurado tal direito (inclusive faz menção ao quanto contido nas Disposições Transitórias), mas que ele deveria ser suprimido para os que ingressassem na carreira dali por diante.
Na mesma sessão, em contraponto, o Deputado Ibsen Pinheiro – que era Procurador de Justiça no Rio Grande do Sul – afirmou:
“Sr. Presidente, o PMDB participou de um acordo amplo sobre esta matéria, onde se construiu uma solução e que encontra muito fundamento quando diz que a lei também defere aos militares a participação nas atividades político-partidárias nos termos que defina. Esta foi a decisão unanimemente construída. Consequentemente, o voto do PMDB é pela rejeição.”
Passada a palavra ao Deputado Gerson Peres, este afirmou:
“S. Ex.ª postula cassar os direitos políticos dos promotores públicos e, ao mesmo tempo, nivelar as atribuições desses promotores às dos magistrados. Ora, Sr. Presidente, os promotores públicos não podem ser comparados aos juízes no que diz respeito às suas atribuições
[…]
Em segundo lugar, temos de dar aos promotores o direito de participar das atividades políticas, definindo essa concessão na legislação ordinária, na lei. Do mesmo modo que já estabelecemos essa concessão, nesta nova Carta, para os militares. Os militares, quando desejarem participar das atividades político-partidárias, têm um prazo para se desincompatibilizar e concorrer ao pleito. No caso de não serem eleitos, voltarão à caserna. Se eleitos, sairão das suas atividades profissionais. De maneira semelhante, poderemos estabelecer regras para os promotores públicos e desse modo não impediremos que eles se candidatem ou participem das atividades político-partidárias. Sr. Presidente, com essas despretensiosas considerações, pediria aos meus eminentes colegas que conservassem o texto, uma vez que ele veda aos promotores a participação na política partidária, mas estabelece exceção para ser posteriormente definida nas leis que iremos depois votar.”
Ao cabo da sessão, a moção apresentada pelo Deputado Gadelha foi reprovada por 342 congressistas. Manteve-se, então, o texto original promulgado a 5 de outubro daquele ano. Fosse a intenção do Constituinte vedar o concurso a cargos eletivos, bastaria, em continuação à vedação expressa, dizer “inclusive a candidatura a cargos eletivos”.
Ora, está evidente, resulta absolutamente claro que o Constituinte originário não teve a intenção de abolir a capacidade eleitoral passiva do membro do Ministério Público!
O que se vedou, unicamente, foi o exercício de atividade político-partidária simultaneamente ao exercício das funções do cargo no Ministério Público (nisso incluída, segundo o STF, a filiação partidária).
Contudo, a Reforma do Judiciário (EC nº 45/2004) tornou os mares revoltosos, isso porque a nova redação se limitou a afirmar: “está vedada a atividade político-partidária”. Nada mais.
Neste tópico, algumas questões se levantam, cujas respostas condicionam aquela primeira questão posta pouco acima. São estas:
- Direitos políticos (votar e ser votado) são direitos fundamentais?
- Sendo direitos fundamentais, trata-se de cláusula pétrea? Sendo cláusula pétrea, poderiam ser abolidos?
- O Constituinte derivado poderia determinar a inelegibilidade do membro do MP, abolindo – ao menos em parte – aquele direito fundamental?
Consultando os alfarrábios, e sabedor da cultura jurídica do ilustre leitor, não ocuparei muitas linhas para, escorado na melhor doutrina, clássica e contemporânea, afirmar que os direitos políticos são direitos fundamentais, de envergadura superconstitucional, sejam pela sua substância, sejam porque decorrentes do conceito de soberania popular, fundamento da República Federativa do Brasil, sejam porque em razão do regime e princípios por ela acolhidos, sejam porque encontram previsão expressa dentro do título dos “Direitos e Garantias Fundamentais”.
Tratando-se de liberdade pública fundamental e, portanto, direito fundamental de 1ª Geração, e assim considerados valores supremos pelo Constituinte originário, estruturantes substanciais do Estado Democrático de Direito prenunciado logo no art. 1º, os direitos políticos incluem-se entre aqueles protegidos pelo art. 60, §4º, não podendo ser em nenhuma hipótese abolidos pelo poder constituinte reformador. Ora, se o próprio voto, como forma de exercício do sufrágio, que por sua vez encontra gênese nos direitos políticos, não pode ser abolido, muito menos estes o poderiam ser. Sendo definitivo: a capacidade de eleger e ser eleito não pode ser suprimida.
Não se está a defender com isso, por óbvio, que se trata de um direito (ou capacidade) amplo, irrestrito e geral, pois que não se trata de um direito absoluto, podendo ser restringido, limitado, regulamentado. Parece-me, e ao caro leitor, evidente que se trata de capacidade a ser exercida em acordo às prescrições legais, que aliás já existem no ordenamento infraconstitucional, todas advindas após 1988 no seio das leis orgânicas nacional e estaduais.
Logo, quando da Nova Carta, o membro do Ministério Público possuía íntegra sua capacidade eleitoral passiva, reforce-se, dentro das normativas traçadas pela lei. Sendo assim, se o próprio Constituinte originário não o fez, muito menos poderia o poder reformador extinguir tal capacidade.
Repare o insigne leitor que, para além de uma cláusula pétrea, a comentada capacidade eleitoral passiva não poderia ser extinta também porque não existe simplesmente nenhuma justificativa para tanto.
Se democracia é o estado de coisas num determinado território que possibilita a qualquer do povo a participação nos assuntos públicos de relevante interesse, interferindo direta (com participação efetiva no governo, aqui entendido em sentido amplo) ou indiretamente (por meio de representantes eleitos), pergunta que se apresenta pertinente é: há pleno ambiente democrático se de uma parcela dos cidadãos está injustificadamente tolhida a possibilidade de participação direta no processo governamental?
Não há absolutamente nenhuma incompatibilidade entre ser membro do Ministério Público e exercer cargo eletivo, mormente porque para tanto deverá o promotor/procurador, reitere-se, afastar-se de suas atribuições na instituição.
Assim, fixadas as premissas, é tempo de procurar a leitura mais constitucionalmente adequada ao artigo 128, § 5º, II, “e”.
Dúvidas inexistem de que há um conflito entre dois princípios de boa envergadura: o princípio atinente à liberdade política (direito de ser votado) e aquele pertinente à vedação do exercício de atividade político-partidária. Esses princípios excluem-se entre si?
A Constituição é cristalina, desde o nascedouro, neste sentido: não se permite a atividade político-partidária em nenhuma hipótese enquanto o membro do Ministério Público estiver no exercício de suas atribuições funcionais. Porém, é plenamente possível assentar ambos os princípios, sem que se diga da exclusão de um deles em definitivo. A Constituição, ao vedar o exercício de atividade político-partidária, não vedou a elegibilidade, mas apenas condicionou-a – assim como a atividade político-partidária – ao afastamento temporário da carreira.
O judicioso leitor bem conhece os modos de intepretação jurídico-constitucional e, sendo assim, não é preciso fazer longas abordagens doutrinárias.
Entendo que deva ser eliminada do cabedal hermenêutico, porque contrária à essência constitucional, qualquer interpretação ao artigo 128, § 5º, II, “e”, que pretenda abolir a capacidade eleitoral passiva do membro do Ministério Público, fazendo tábula rasa das liberdades políticas fundamentais do indivíduo. Ele, por conseguinte, deverá submeter-se a uma intepretação restritiva, excluindo-se aquela que apenas autorizaria o exercício pleno da capacidade passiva eleitoral com o desligamento da carreira – condição prejudicial que não está expressa, aliás, na norma debatida e que, dessa maneira, não pode ser criada por mero exercício hermenêutico.
Via de consequência, a fim de adequar a existência pacífica daqueles dois princípios, em conformidade com a Constituição, melhor que se interprete o mencionado artigo da seguinte forma: fica vedada a atividade político-partidária, incluindo-se a filiação partidária e a elegibilidade, simultaneamente ao exercício das atribuições no Ministério Público, sendo possível apenas nos casos de afastamento temporário do cargo, previsto e regulamentado pela já existente estrutura das leis orgânicas do MP e, também, em eventual regulamentação expedida pelo CNMP.
ARGUMENTOS CONTRÁRIOS
É claro, não se desconhecem os argumentos que são contrários a tal permissão, muitos deles inclusive defendidos por membros da carreira, genuinamente preocupados. Pincei, adiante, alguns deles:
- O exercício de atividade político-partidária não se justifica porque absorve, desvia e desprofissionaliza os seus agentes;
- Tal exercício retira a necessária isenção do membro ministerial;
- O financiamento de campanhas conduz a inevitáveis compromissos e aproximação com grupos econômicos;
- Tais compromissos desacreditam sua independência funcional e a credibilidade pública de sua atuação;
- Membros podem se valer da atuação no cargo como forma de trampolim para a carreira política, ferindo a moralidade administrativa com o abuso de poder pelo uso do cargo;
- O perfil atual do Ministério Público na Constituição é incompatível com a capacidade eleitoral passiva de seus membros.
A seguir, reserva-se espaço para discutirem-se tais argumentos.
É CONVENIENTE?
Inconteste que, em temas de direitos fundamentais, porque imperativos, incabível sua valoração no que toca à (in)conveniência.
Portanto, de pronto, afirma-se que nenhuma das – respeitosas – objeções enumeradas acima deve subsistir, quando postas defronte o direito fundamental de ser votado.
O membro do Ministério Público é, em sua essência, um agente político, que, a todo momento, desempenha papel de relevo na ordem social. Por isso, é inegável contrassenso suprimir-lhe o acesso, por qualquer razão, a cargos eletivos, nos quais desempenhará, assim como no exercício de suas atribuições enquanto membro do MP, funções de igual relevo na ordem social.
Demais disso, não prospera, ao menos numa ótica racional, o argumento de que os membros podem se valer da atuação no cargo como forma de trampolim para a carreira política, ferindo a moralidade administrativa com o abuso de poder pelo uso do cargo. Ora, inúmeras outras profissões – autônomas ou não – podem exercer no cotidiano influências políticas e/ou econômicas infinitamente maiores e mais decisivas sobre o eleitor: um médico de renome numa pequena cidade do interior; um rico empresário; um grande proprietário de terras; o dono de redes de televisão e jornais; um apresentador de rádio e televisão; um atleta; um delegado de polícia ou um defensor público; um advogado de fama; um militar atuante na mesma região por muitos anos. Os exemplos são intermináveis. A nenhuma delas, contudo, se tolheu a cidadania plena do profissional.
Por que, por exemplo, um delegado de polícia, que não encontra tal vedação, não se valeria eventualmente do cargo como trampolim para a carreira política? Por que o argumento sobre eventual abuso valeria para o membro do Ministério Público, mas não para outros atores jurídicos?
Aliás, soa até natural que, como figura pública que é, possa o promotor/procurador angariar simpatia da comunidade onde vive por relevantes trabalhos que porventura tenha desempenhado em sua função. Isso, por si só, não pode ser visto como abuso de poder.
A influência – ou ascendência – de determinadas pessoas é parte do jogo democrático. Somente tal não ocorreria numa sociedade utópica em que todos fossem estritamente iguais. Sendo assim, é correto solapar direito fundamental a partir de uma hipótese ou é razoável presumir que, somente em se tratando de membros do Ministério Público, o arcabouço normativo eleitoral não basta para coibir abusos, e, portanto, se deva desde logo tolher-lhe a capacidade eleitoral passiva? Certo que não, sobretudo porque se encontram meios suficientes na legislação eleitoral para eventual impugnação da candidatura.
Outrossim, a tese de que o exercício da capacidade eleitoral passiva absorve, desvia e desprofissionaliza os seus agentes, retirando sua necessária isenção, não encontra nenhum fundamento na realidade. Primeiro, porque o membro deverá afastar-se de suas atribuições no cargo; segundo, porque ao retornar deverá se desfiliar do partido político e suportar ao menos dois anos de quarentena para atuação na Justiça Eleitoral; terceiro, porque há mecanismos nas leis vigentes aptos a obstar a atuação do membro nas situações em que verificada a sua suspeição, a qual, se constatada, deve ser declarada judicialmente. Em suma, a crítica formulada é por evidente genérica e não pode ser tomada como impeditiva do exercício daquele direito fundamental.
De outra banda, a ideia de que o financiamento de campanhas conduz a inevitáveis compromissos e aproximação com grupos econômicos, desacreditando a independência funcional do membro e a credibilidade pública de sua atuação, não mais subsiste tendo em conta o novo mecanismo do financiamento público de campanhas, uma vez que o financiamento por pessoas jurídicas deixou de existir após o julgamento da ADI 4650 pela Excelsa Corte.
Há, por outro lado, instrumentos à saciedade para se punirem eventuais desvios de conduta, quaisquer que o sejam, pelo membro ministerial, seja no exercício do cargo, seja durante sua vida parlamentar. Para tanto existe a vigilância constante do Conselho Nacional do Ministério Público e também das corregedorias locais, além de ações judiciais que determinem eventualmente a perda do cargo.
Igualmente, a imposição de regras inflexíveis (sobretudo pelo Conselho Nacional do Ministério Público) poderá coibir ou prevenir desvios daqueles que pretendem exercer ou que exerçam mandatos eletivos, regulamentando o afastamento e, mais importante, o retorno ao cargo ao cabo da eleição ou do mandato.
Por derradeiro, a tese de que o perfil atual do Ministério Público na Constituição é incompatível com a capacidade eleitoral passiva de seus membros seduz mas não conquista, pois, nada obstante a augusta posição do MP na nova ordem jurídica e democrática iniciada a partir de 1988, já ficou patente que o Constituinte originário, mesmo diante desse novo perfil, não houve por bem naquela oportunidade eliminar a capacidade eleitoral passiva de seus membros.
Observe-se que absolutamente nenhuma das objeções é capaz de obliterar liberdade tão fundamental como a liberdade política. Por tudo que já se disse, tem-se que ela está na gênese da própria noção de democracia e é inerente à pessoa humana, razão pela qual merece proteção máxima no ordenamento constitucional e legal.
Quem não deseja a representação do Ministério Público no Parlamento? A quem interessa tal ausência? Quais interesses movem esse desejo?
Nem se diga que os interesses do Ministério Público e de seus membros podem se mediar pela atuação das entidades de classe (CONAMP, ANPR, associações estaduais etc.). Malgrado vossa importantíssima atuação, é de sabença geral que elas encontram amiúde escolhos na consecução dos objetivos justamente porque ausentes vozes representativas da instituição nos parlamentos.
Mais do que isso, também é de conhecimento vulgar que todas as classes têm o direito de estar representadas no Parlamento, dada a importância da atuação representativa aos interesses de seus integrantes e de sua respectiva instituição. Recorro à lição clássica de J.S. Mill:
“Não precisamos supor que, quando o poder reside numa classe exclusiva, essa classe irá deliberada e conscientemente sacrificar as demais classes a si mesma: basta dizer que, na ausência de seus defensores naturais, o interesse dos excluídos corre o risco de passar despercebido e, se e quando chega a ser percebido, é com olhos muito diferentes dos das pessoas diretamente interessadas […] O Parlamento ou algum de seus membros enxerga qualquer questão, mesmo que por um único instante, com os olhos de um trabalhador? Quando surge algum tema que interessa aos trabalhadores enquanto tais, ele é abordado de algum ponto de vista que não seja o dos empregadores da mão de obra? […] Uma condição inerente aos assuntos humanos é que nenhuma intenção de proteger interesses alheios, por sincera que seja, é capaz de transformar esse manietamento em algo seguro ou salutar. Uma verdade ainda mais evidente é que apenas com as próprias mãos é possível realizar qualquer melhoria real e duradoura nas condições de vida.”
Pode-se listar um imenso carretel de nomes ilustres que, no decorrer de décadas, traçaram belas carreiras políticas após terem exercido o cargo de promotor: dois nomes conhecidíssimos no cenário são Getúlio Vargas e Tancredo Neves.
Outros insignes personagens egressos do Ministério Público abrilhantaram a vida política do Parlamento nos últimos quarenta anos. Em breve levantamento, constatou-se que nos tempos da Assembleia Nacional Constituinte havia em torno de 24 congressistas saídos das fileiras do parquet. Não surpreende que, justamente nesse período, a instituição tanto tenha evoluído.
Mesmo pós-88, a presença de membros qualificados do MP no Congresso só contribuiu para o nascimento ou aperfeiçoamento de uma vasta legislação que perdura até hoje: Código do Consumidor, leis sobre atos de improbidade e licitações, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei dos Crimes Hediondos, diplomas ambientais, melhorias nos ritos processuais etc. Apenas na primeira metade da década de 90 havia quase duas dezenas de parlamentares que ocupavam ou já haviam ocupado assento no Ministério Público.
Um certo apelo a algum “puritanismo” tomou conta de uma parcela da classe nos últimos anos, acreditando-se que uma distância do meio político seria de rigor para acrisolar a instituição, mantendo-a a salvo dos “males” da política e do seu “opróbrio moral”. Trata-se de um autoengano pernicioso, pois, ao abrir mão de estar na arena política, o Ministério Público meteu-se ao largo das discussões mais relevantes, inclusive ao seu próprio destino. Não por acaso, a passos largos a instituição – e seus membros – vêm sofrendo ataques e derrotas.
Em conversa com o promotor de justiça José Carlos Cosenzo, histórico membro do Ministério Público nacional, ex-Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), este testemunhou:
“Certa parcela da carreira perdeu o interesse em conhecer a história institucional. Entende que o MP nasceu do texto constitucional, mas não conhece a dificuldade para conquista-lo. Em razão da atuação mais intensa no combate aos crimes contra o patrimônio público e improbidade administrativa, enxerga nos atores políticos um inimigo perigoso. Evita o diálogo e rotula a “classe política” como abominável. Por isso, essa parcela é contrária à atividade política externa do membro do MP. Entretanto, ela não se deu conta de que esse distanciamento nos tornou uma ilha, sem representatividade para postular nossos interesses para defender a sociedade. E não sabe que estamos perdendo espaços e experimentando redução de poderes”.
Perfeita a análise. O Ministério Público desconectou-se da política. Invertendo o famoso ditado, “preservou os anéis, entregou os dedos”.
Também concordando com a necessidade de revisitação do tema, o atual e ilustre Presidente da CONAMP, Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares, assim se expressou:
“A legitimidade passiva das magistraturas (integrantes do Judiciário e do Ministério Público) é um indicador do nível democrático em que se encontra um país, pois negá-la significa dizer que eles são cidadãos de segunda categoria, uma vez que não possuem cidadania plena”.
Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul e atual presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Fabiano Dallazen, entende não haver nenhuma razão político-institucional para se vedar a participação do membro do MP na vida político-partidária do país, acrescentando que, por exemplo, pelo chamado quinto constitucional pode-se alcançar outro poder – o Judiciário, motivo pelo qual nenhum desequilíbrio ou espanto há em se alcançar os outros dois Poderes da nação pelo voto popular. Diz, ainda, o eminente Procurador que a experiência amealhada pelo membro ministerial ao longo de sua carreira tão apenas contribui para melhoria do sistema político do país e da própria sociedade.
Outra figura de proa na história do MP nacional, Dr. Antônio Carlos Biscaia, ex-Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro e ex-deputado federal, em entrevista concedida (março/2018) ao Centro de Memória do MPRJ, afirmou:
“[…] eu acho que o legislativo é essencial, é importante que o Ministério Público tenha consciência disso. Hoje, a bancada da bala, dos delegados, dos policiais militares já tem cerca de 50 parlamentares, e estão fazendo campanha para que mais se elejam, e o Ministério Público hoje está proibido de exercer atividade político-partidária. Será que esta decisão foi correta? É uma questão para reflexão”.
Em conversa com o escriba, Biscaia ainda acrescentou:
“A presença do Ministério Público no parlamento é importante. A atividade político-partidária deve estar regulamentada muito bem pelo CNMP, para evitar abusos que apenas desgastam a instituição, mas não deve ser proibida. Estive presente nos trabalhos da Constituinte, muitas vezes pernoitando noites e noites em Brasília, e sei o quanto é importante a presença, nesses momentos decisivos da história do MP, de membros no Congresso”.
E, em sua biografia, Biscaia não poupou queixas ao próprio MP:
“Todos me homenageiam como quem mais defendeu o Ministério Público no Congresso. Defendo porque acho que a Instituição é essencial na democracia, mas chega na hora da campanha não há colaboração […] Com o salário atual, uma contribuição de R$ 100 é mínima. Se 500 promotores dessem uma doação desse nível, seriam R$ 50 mil […] Enquanto isto, a polícia está cada vez mais com representantes. No MP, a turma não quer saber”.
Há de se recordar, aliás, a atuação ativa de Biscaia na defesa do Ministério Público quando da discussão na Câmara do projeto de lei nº 2961/97, conhecido como a “Lei da Mordaça”, bem como na CPI do Narcotráfico e dos Sanguessugas.
Junta-se a essas vozes o Procurador da República José Robalinho Cavalcanti, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República entre 2015 e 2019, época em que a ANPR ajuizou ADI perante o Supremo requerendo a interpretação conforme a Constituição do art. 128, § 5º, II, “e”, no mesmo sentido deste escrito. Robalinho concedeu esta declaração sobre o tema:
“A ausência absoluta de legitimidade passiva eleitoral dos membros do Ministério Público é ilógica, injusta e inconstitucional, inclusive por contrariar tratados internacionais aos quais o Brasil já aderiu, os quais só permitem a vedação por prática de ilícito. Ser impedido de participar da vida pública pela via eleitoral é ser meio cidadão, o que é injusto, e não guarda sentido algum, sendo, na verdade, um preconceito com a política. Como se a disputa política numa democracia conspurcasse de alguma forma a isenção das magistraturas, o que não é verdade. Tanto assim que a nenhum agente público se permite, em seu papel no Estado, que aja por inclinação política. Mas apenas a membros do Ministério Público e Juízes se impede de serem candidatos. Aos demais – inclusive aos militares – as candidaturas são franqueadas, com alguns cuidados e restrições. Não pedimos ou esperamos o contrário. Tem de haver cuidados e normas restritivas. Os membros do MP que se licenciarem para candidatura, ou para exercício de cargos eletivos podem, e devem, ter restrições normativas sobre desincompatibilização e impedimento de atuar em determinadas áreas em seu retorno. O que não é possível é permanecer o entendimento de que a vedação passiva eleitoral é absoluta, total, pois isso é desproporcional, desnecessário, e desobedece os tratados aos quais o Brasil aderiu, que afirmam que o direito de se candidatar apenas poderia ser limitado por regras procedimentais – como, por exemplo, o domicílio eleitoral –, ou pela prática de atos ilícitos. Não se pode vedar a cidadania apenas por ser o indivíduo membro de determinada categoria de agentes de Estado”.
Após essa digressão, deixo, ao final, uma pergunta para a reflexão do paciente leitor, sobretudo se companheiro de Ministério Público: nossa presença no Parlamento fez evoluir ou retroceder a instituição?
CANDIDATURA AVULSA
Rapidamente passo pelo tema, haja vista que ainda sob leitura pela Suprema Corte, no âmbito da ARE nº 1.054.490-RJ, na qual a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à candidatura avulsa, ou seja, aquela sem filiação a partido político. Na oportunidade, a PGR entendeu que o Pacto de San José da Costa Rica vedou a filiação partidária como condição para o exercício da capacidade eleitoral passiva do cidadão.
Aqui, duas considerações: 1) a interpretação dada corretamente pela PGR para permitir a candidatura avulsa é a mesma no caso em discussão: se nem mesmo a filiação partidária (eleita pelo Constituinte originário) pode ser condição ao exercício pleno da cidadania, muito menos o desligamento definitivo da carreira poderia sê-lo – a qual representa severa exigência e grande impacto na vida do cidadão interessado em concorrer a cargo político; 2) se permitida a candidatura avulsa, abre-se hipótese favorável ao exercício da capacidade eleitoral passiva ao membro do MP.
Todavia, mais correto que, pelas razões e condições anteriormente expostas, reconheça-se ao membro sua capacidade eleitoral passiva, independentemente da possibilidade de candidatura avulsa.
O QUE HÁ NAS LEIS?
O primeiro diploma infraconstitucional a regulamentar o assunto, a Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público da União, veda o exercício da atividade político-partidária, exceto a filiação partidária e o direito de afastar-se para exercer ou concorrer a cargo eletivo (art. 237, V). Basicamente, a mesma redação foi repetida em todas as outras leis orgânicas. Neste ponto, é de rigor mencionar que o STF decidiu que a filiação partidária está englobada pelo conceito de atividade político-partidária, razão pela qual o membro deverá afastar-se também para se filiar.
Quanto ao afastamento, a lei preceitua que o membro poderá se afastar para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer, determinando o afastamento obrigatório a partir do dia do registro da candidatura na Justiça Eleitoral (art. 204, IV, “b”).
No que tange à maneira de se proceder ao afastamento, saltam aos olhos, ao menos numa primeira leitura, algumas dúvidas. A comentada lei dispôs que caberá ao Procurador-Geral da República (art. 49, XIII) autorizar o afastamento do membro, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público, que opinará a respeito (art. 57, XII), nas hipóteses previstas em lei.
Já no §1º do art. 204 – que trata dos afastamentos em geral – está previsto que o “afastamento, salvo na hipótese do inciso IV [afastamento para exercício da capacidade eleitoral passiva], só se dará mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de serviço”. Logicamente, no caso do afastamento para exercício da capacidade eleitoral passiva, apenas se necessitará da autorização do Procurador-Geral, após ouvido o Conselho Superior, sem nenhum juízo de valor quanto à necessidade de serviço, por se tratar de direito fundamental do membro solicitante.
No caso do afastamento obrigatório (a partir do registro da candidatura), o membro continua a fazer jus a vencimentos, vantagens e qualquer direito relativo ao cargo na instituição, extraindo-se tal conclusão da leitura do §2º do art. 204. Caso eleito, lhe será assegurada a opção da remuneração preferida.
É possível ainda, conforme o citado diploma, ao membro um afastamento facultativo e sem remuneração, durante o período entre a escolha como candidato a cargo eletivo em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral (art. 204, IV, “b”) – conforme se exporá abaixo, este ponto entra em conflito com a necessidade de desincompatibilização do cargo meses antes da eleição.
No mais, a lei veda a atuação na Justiça Eleitoral, até dois anos após o cancelamento da filiação partidária, e também a promoção por merecimento, até um dia após o regresso à carreira.
Atente-se que, por se tratar de lei geral, a Lei Complementar nº 75/93 se aplica também subsidiária e complementarmente aos Ministérios Públicos dos Estados, conforme previsto no art. 80 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
Cada MP estadual, a seu turno, por meio de sua lei orgânica, disciplinou a matéria. Em Goiás, a Lei Complementar nº 25/98 assim o fez:
Art. 125 – Poderá o membro do Ministério Público afastar-se do cargo, ainda, para:
I – exercer cargo público eletivo ou a ele concorrer
[…]
- 1º – Os afastamentos previstos neste artigo dependerão de aprovação, por maioria absoluta, do Conselho Superior do Ministério Público.
A autorização para o afastamento continua a ser atribuição do Procurador-Geral, todavia, em Goiás, ela deve ser precedida de aprovação pelo Conselho Superior. Nada obstante, e por se tratar de condição sine qua non ao exercício de um direito fundamental, a leitura mais correta é que a autorização e a aprovação não são atos discricionários. Somente poderia ser, em tese, negadas nas situações previstas no §2º do art. 125 (Não será permitido o afastamento de membro do Ministério Público submetido a procedimento disciplinar, que esteja em estágio probatório ou que reúna as condições previstas no artigo 127); todavia, digo em tese porque o STF, na ADI 2534-MG está em vias de declarar inconstitucional (já o fizera liminarmente a 15/08/2002) um artigo idêntico existente na Lei Orgânica do MPMG.
Urge relembrar também a Lei Complementar nº 64/90, que trata sobre prazos de desincompatibilização do cargo.
| CARGO |
PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO |
| Prefeito e vice-prefeito |
4 meses |
| Vereador |
6 meses |
| Governador e vice-governador |
6 meses |
| Deputado estadual |
6 meses |
| Presidente e vice-presidente |
6 meses |
| Deputado federal e senador |
6 meses |
Por derradeiro, cumpre trazer a conhecimento a proposta de emenda à Constituição existente no Senado Federal que visa a eliminar a alínea “e” do inciso II do artigo 128, regulamentando a atividade político-partidária do membro do Ministério Público, nestes termos:
Art. 1º. São introduzidos os §§ 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 no art. 128 da Constituição Federal, com a seguinte redação:
“Art. 128………………………………………………………….
- 7º Os membros do Ministério Público que desejarem concorrer a cargos eletivos nas eleições gerais, deverão licenciar-se de suas funções, 6 (seis) meses antes do pleito.
- 8º Será concedido aos membros que se licenciarem, nos termos da lei complementar, pelo período de 4 (quatro) meses, o subsídio e vantagens do respectivo cargo efetivo.
- 9º Caso eleito, o membro deverá optar pelo subsídio do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo eletivo, sem prejuízo para o tempo de serviço para fins de progressão por antiguidade.
- 10 Não será concedida ajuda de custo ao membro
que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
- 11 O reingresso nas atividades do Ministério Público deverá ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de divulgação do resultado da eleição, em caso de insucesso, ou 120 (cento e vinte) dias a contar da renúncia ou término do mandato, desde que comprove a inexistência de qualquer vínculo com a atividade político-partidária”. (NR)
- 12 Os membros que se licenciarem para o exercício de mandato eletivo, ficarão impedidos de integrar os Tribunais previstos no art. 94, pelo prazo de 4 (quatro) anos, a contar do retorno às atividades do Ministério Público.
Art. 2º Fica suprimida a alínea “e” do inciso II do § 5º do art. 128 da Constituição Federal.
Na Justificativa da proposta, lê-se:
[…] a proibição pura e simples dessa possibilidade termina impedindo que homens vocacionados para política, testados na prática de uma atividade tão importante para o espírito republicano, alcancem pelo voto cargos executivos ou legislativos
[…]
vislumbramos que nenhum país deve se dar ao luxo de desperdiçar lideranças. Deve ser princípio de uma democracia dar aos seus cidadãos a possibilidade de participar do processo político. As restrições a esse princípio devem ser cuidadosamente tratadas […]
PRECEDENTES
Visando a encurtar a leitura deste escrito que já se alonga, farei apenas referências a precedentes encontrados na Corte Suprema.
O STF, em verdade, nunca se debruçou especificamente sobre o tema.
É cediço que a Corte Excelsa já decidiu, em outras oportunidades, pela proibição de o membro se afastar temporariamente para ocupar outra função pública – haja a vista a vedação imposta pelo art. 128, § 5º, II, “d”.
(Numa leitura evidentemente particular, penso que nenhum problema haverá no caso de o membro, já afastado temporariamente ocupando cargo eletivo, ser nomeado para outra função pública no âmbito do Executivo, desde que mantenha, ainda, o cargo eletivo. Por exemplo: aquele que já está afastado para exercício do cargo de deputado federal se afastar deste cargo para ocupar o de Ministro da Justiça. Em tal hipótese, a vedação do art. 128, § 5º, II, “d”, não se aplica, tendo validade apenas no caso em que o membro pretenda se afastar da carreira para ocupar outra função pública. A próprio CF permite que o congressista pode se afastar do cargo para ocupar outros no âmbito do Executivo – art. 56, I).
Porém, e cabe ressaltar, essa vedação nada tem que ver com aquela da alínea seguinte. Em verdade, o que o constituinte originário desejou vedar de forma absoluta foi a saída do membro temporariamente da carreira para exercer funções públicas em outros poderes (ex: secretário de Estado, Ministro de Estado, diretor de presídio etc). Mas essa vedação não alcança de maneira alguma os cargos eletivos.
A propósito, o Ministro Gilmar Mendes, no início da votação da ADPF 388, que deu a interpretação definitiva ao art. 128, § 5º, II, “d”, afirmou que ali não se trataria da vedação contida na alínea “e”, já que assuntos distintos.
Outrossim, na decisão do RE nº 597.994-6/PA, que versou sobre o caso da candidatura de Maria do Carmo Martins Lima ao cargo de prefeita de Santarém/PA, tampouco se discutiu – no mérito – sobre a nova vedação ainda recém inserida pela EC 45/2004.
Por fim, em duas ADI (uma delas a de nº 1371), datadas do final da década de 90, assentou-se apenas que o membro que desejasse a filiação partidária deveria se afastar da carreira, englobando a filiação ao conceito de atividade político-partidária.
Consoante se nota, o tema ora debatido ainda remanesce não decidido pela Suprema Corte.
PROPOSTAS
Propõe-se, a partir de então, um novo horizonte ao Ministério Público.
Certo que a vedação absoluta é flagrantemente inconstitucional, impõe-se que, doravante, cada instituição, por intermédio de sua cúpula, autorize dentro das balizas legais o afastamento do membro para concorrer a cargo eletivo, tratando-se tal autorização de uma decisão administrativa vinculada, sem espaço para juízos de discricionariedade do Conselho Superior e/ou do Procurador-Geral de Justiça ou do Procurador-Geral da Repúlica, é dizer: preenchendo o postulante os requisitos objetivos previstos nas normas, ele faz jus ao afastamento.
Fixado esse primeiro importante ponto, passa-se a algumas despretensiosas sugestões que podem – talvez – melhor orientar o tratamento do tema pelo CNMP e por cada instituição.
Definição de “atividade político-partidária”
Aqui, tenho que o próprio CNMP poderia regulamentar a matéria, emprestando à expressão uma definição mínima, conforme sugerido a seguir:
- Considera-se atividade político-partidária:
- O exercício de cargos ou funções na estrutura partidária
- A filiação partidária, por equiparação
- Ativa participação em atos públicos ou privados de partido
- Engajamento público ou privado para formação, promoção ou financiamento de agremiação partidária
- Não se considera atividade político-partidária:
- Inclinação pessoal por determinada ideologia ou partido político
- Apoio ou repúdio público a figura(s) política(s)
- Elogios ou críticas a governos
- Doação de valores a agremiação partidária
- Colaboração eventual a partido político
Sim, é possível que se verifiquem lacunas que doravante serão regulamentadas, todavia, já se teria um norte de saída sobre o tema, evitando-se interpretações dúbias que possam causar desnecessário desgaste.
Regulamentação Acerca da Saída e do Retorno ao Cargo
Questão de suma relevância é sobre as condições do retorno do membro, então afastado, às suas atribuições originais.
Para além daquelas restrições já previstas em lei (ex: de exercer função eleitoral até dois anos após a desfiliação partidária), outras podem ser implementadas – e não vejo obstáculo a que sejam pelo próprio CNMP:
- Quarentena de dois anos após o retorno em atribuições que possam por sua natureza demandar ajuizamento de ações penais ou de improbidade em face do Executivo ou Legislativo (no caso, caberá à Administração Superior do MP realocar o membro, temporariamente, em outra função)
- Desvinculação do membro, ao menos um ano antes da eleição, de atribuições que possam por sua natureza demandar ajuizamento de ações penais ou de improbidade em face do Executivo ou Legislativo
Perceba-se que tais restrições não implicam evidentemente obstáculos instransponíveis ao exercício do direito fundamental, sendo apenas restrições que visam a resguardar minimamente o bom exercício da função relativa ao cargo, a se desempenhar então por membro distinto daquele outrora afastado – o qual continuará titular do cargo, apenas exercendo atribuições em outro cargo, enquanto durar a quarentena de retorno, o mesmo ocorrendo no caso da desvinculação, naquela segunda hipótese. Tais restrições temporárias decerto evitarão eventuais dissabores.
Regulamentação Acerca da Remuneração Quando do Afastamento
As leis federais e as estaduais resvalam no tema, quando, por exemplo, dispõem que o membro poderá optar entre a remuneração do cargo na instituição ou aquela do cargo eletivo.
Mas, a grande pergunta que fica é: o membro que se afasta para concorrer a cargo eletivo faz jus aos vencimentos do cargo?
Aqui, necessário ressaltar: o afastamento é sempre necessário para o exercício de atividade político-partidária. No entanto, ele deverá ser considerado compulsório quando, para se candidatar, o membro tiver que se desincompatibilizar nos prazos – peremptórios – da Lei Complementar nº 64/90, em relação aos quais o desrespeito é punido com o indeferimento do registro da candidatura. Nos demais casos, trata-se de afastamento não compulsório, quando o membro, no intuito de exercer a atividade político-partidária, não pretender se candidatar, mas tão somente, por exemplo, exercer algum cargo em determinada agremiação partidária ou engajar-se na criação de um partido político.
Logo, em se tratando de afastamento compulsório, o membro fará jus aos vencimentos do cargo. De fato, não se pode exigir que aquele disposto às agruras de uma campanha eleitoral, para no futuro representar no cargo almejado também os interesses da classe, abra mão de sua única fonte de renda. Até a posse no cargo – e se eleito – viverá de quê?
A propósito, a Lei Complementar nº 64/90 prevê:
Art. 1º São inelegíveis:
[…]
IV – para Prefeito e Vice-Prefeito:
[…]
- b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
(destaquei)
Solução diversa à que ora se propõe implicaria em obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental para o membro que não disponha de outra fonte de renda (caso da esmagadora maioria), pouco ou nada alterando o panorama atual.
Assim, de rigor que o CNMP regulamente o tema, permitindo ao membro sujeito a afastamento compulsório de desincompatibilização da lei complementar referida o direito à normal percepção dos vencimentos a partir deste momento até a posse no cargo eletivo, quando, então, poderá optar por um deles.
Regulamentação Acerca Território Eleitoral
Neste ponto, confesso não ter opinião definitiva, e tenho dúvidas acerca da constitucionalidade de tal previsão. No entanto, como a proposta do texto é submeter ideias para reflexão, podendo-se refutá-las ou não, e ouvindo opiniões de abalizados colegas, de rigor uma pincelada no assunto.
De fato, embaraçosa a hipótese de o membro se candidatar a cargo eletivo numa pequena cidade, onde exerce atribuições ministeriais. Ouvi sugestões no sentido de se proibir a candidatura em cidades que componham a comarca em que o membro exerça suas funções; outras, de se proibir a candidatura nessas cidades, se população for inferior a 100.000 habitantes.
Penso, todavia, ser inconstitucional proibir-se a candidatura municipal. O que se pode – e até se deve, a depender do caso – é remover, temporária ou definitivamente, o membro para outro local, impondo-se a vedação, pelo prazo não inferior a um ano antes das eleições, de ocupar funções que por sua natureza demandem ações penais ou de improbidade contra membros do Legislativo e Executivo municipal.
Não se deve deslembrar que mesmo uma carreira política dificilmente se inicia num cargo de maior relevo (estadual ou nacional), havendo degraus que por vezes serão condições necessárias para um “voo” político mais longínquo, sendo natural ele que guarde início no território eleitoral em que se vive e se desempenha o labor.
Por isso, mais conectada à realidade está, com a permissão do pensamento contrário, a possibilidade de candidatura mesmo na própria comarca, com as restrições que se possam elaborar para o bom exercício das funções do Ministério Público.
FINAL
Como dito no início, a intenção deste escrito é apenas colocar em debate assunto tão caro à classe.
Não é justo que se suprima direito tão sagrado – como o de ser votado – apenas pelo argumento de se integrar determinada instituição, temendo-se que ela possa sofrer o risco de ser contaminada pelas vicissitudes da política. Há incontáveis maneiras de se proteger o bom nome do MP sem se aniquilarem os direitos que o membro, antes de tudo cidadão, conserva consigo. Trata-se de direitos inalienáveis, que não se perdem com o ingresso na carreira do Ministério Público.
Já é tempo de vencer velhas barreiras, antigos preconceitos, prejudicais resistências, que estão retirando do palco atores inegavelmente preparados à plena atuação na cena política em defesa dos interesses da instituição, dos seus membros e, em última e maior análise, da própria sociedade. O Ministério Público distante da atividade política in loco é uma instituição sem dúvida menos pujante, frondosa, fecunda.
Um Ministério Público enfraquecido absolutamente não interessa ao Estado Democrático de Direito.
É tempo de mudar.
Bibliografia
Gonçalves F. Filho, Manoel. Curso de Direito Constitucional. 37ª ed. Saraiva: 2011.
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. Do espírito das leis. Trad. Roberto Leal Ferreira. Martin Claret.
MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. Trad. Denisa Bottman. 1ª ed. L&PM: 2018.
COULANGES, Numa Denis Fustel de. A cidade antiga: estudo sobre o culto, o direito e as instituições da Grécia e Roma. Trad. Roberto Leal Ferreira. Martin Claret: 2009.
DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Trad. Beatriz Sidou. Editora Universidade de Brasília: 2016.
RAWLS, John. O liberalismo político. Trad. Dinah de Abreu Azevedo. 2ª ed. Ática: 2000.
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Leis e costumes. De certas leis e costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático. Trad. Eduardo Brandão. 2ª ed. Martins Fontes: 2005.
RANCIÈRE, Jacques. Ódio à democracia. Trad. Mariana Echalar. 1ª ed. Boitempo: 2014.
BOBBIO, Norberto. Ensaio sobre ciência política na Itália. Trad. Maria Celeste Faria Marcondes. Editora Universidade de Brasília. 2002.
AULER, Marcelo. Biscaia. 1ª ed. Cassará. Rio de Janeiro: 2012.