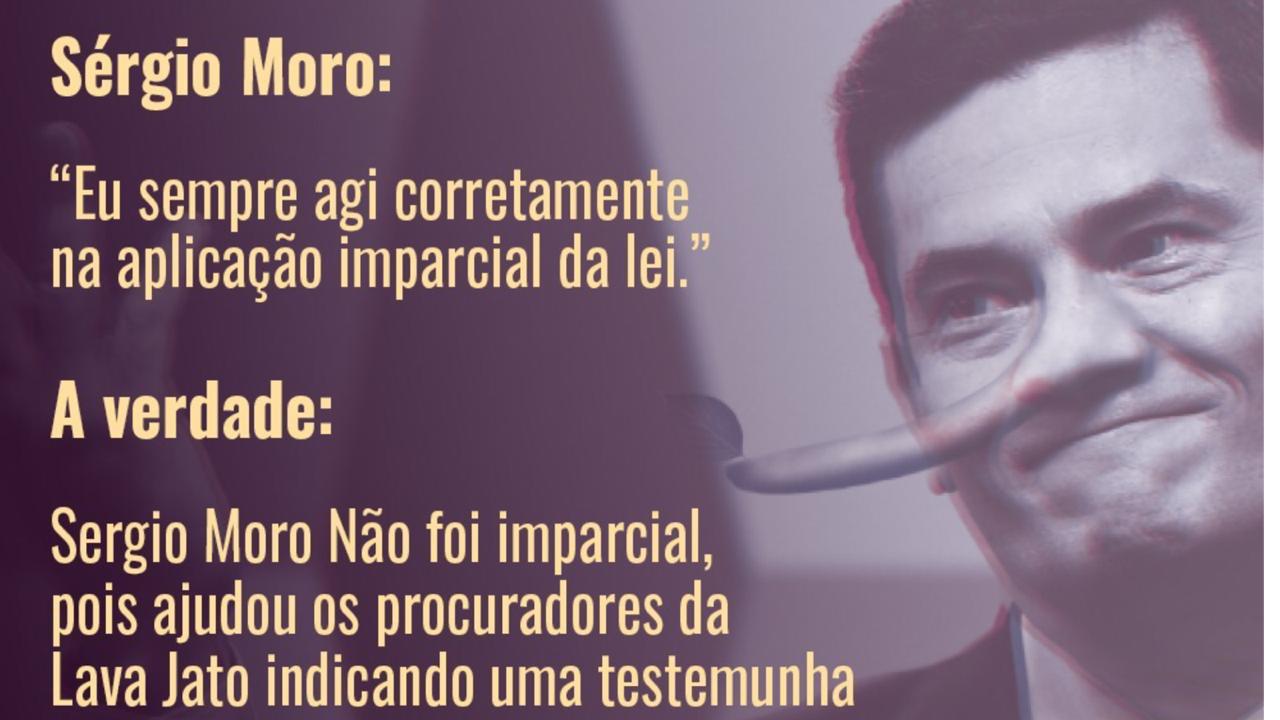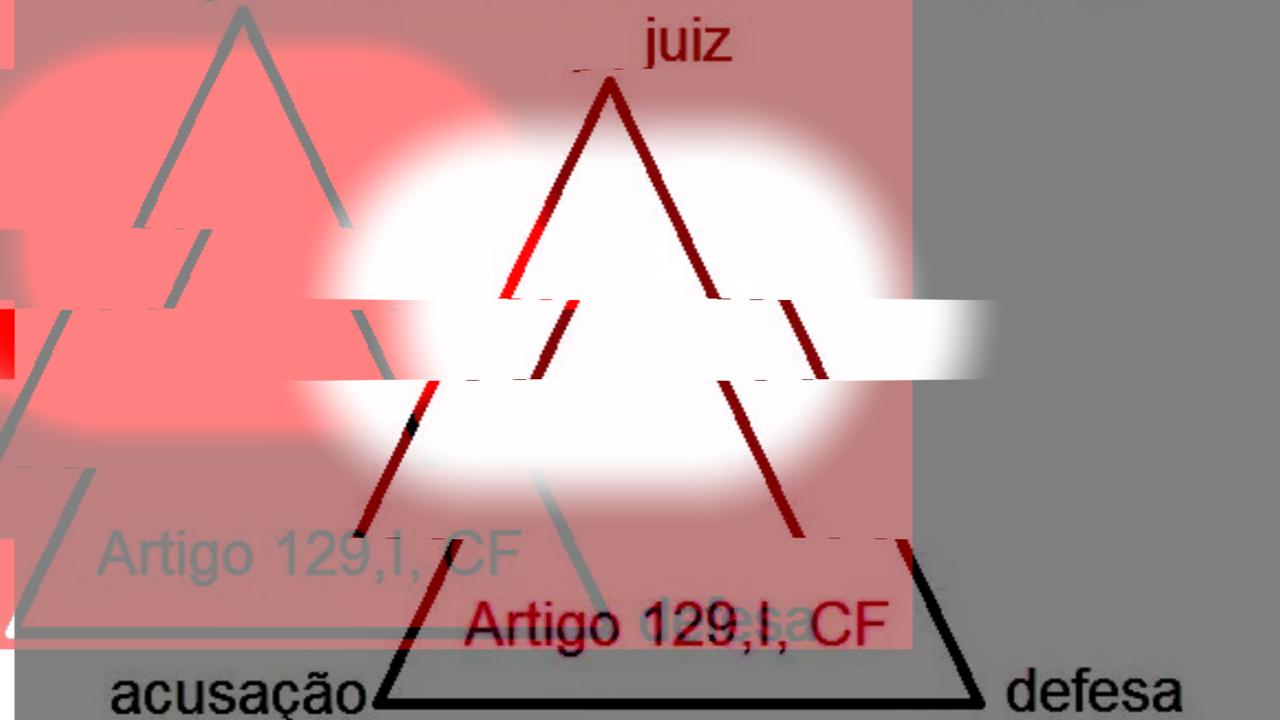Por Haroldo Caetano, no site do CNMP.
Este artigo baseia-se em palestra proferida no dia 7 de junho de 2018 por ocasião do seminário “Execução, tortura e desaparecimento forçado: racismo e violência de Estado hoje”, promovido pela Subcomissão da Verdade na Democracia Mães de Acari, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
A partir da banalização da violência institucional que se manifesta pela letalidade na ação da polícia e pela política de encarceramento em massa de adultos, adolescentes e loucos, este artigo denuncia a prática de terrorismo pelo Estado brasileiro, que se volta contra as populações pobres e pretas, as quais, por não integrarem as relações de produção/ consumo, não contam com a proteção do capital, tampouco com o amparo do Estado neoliberal.
Em seu livro Topologia da violência, Byung-Chul Han questiona a validade do argumento de que a ordem do direito poderia perder sua eficácia se, para alcançar seus objetivos, não pudesse dispor de recursos violentos. É que, nesses termos, o direito não passaria de uma prerrogativa de imposição da violência pelo Estado. Contudo, como afirma o filósofo sul-coreano, é bem verdade que no direito existe a possibilidade de uma imposição violenta, mas necessariamente ele não precisa se basear nela (HAN, 2017, p. 104). Sob tal premissa, pode-se afirmar que o que assegura a estabilidade e que mantém viva a ordem emanada do direito não são as ameaças de violência ou as sanções; pelo contrário, a violência não é capaz de manter a coesão, pois manifesta muito mais a instabilidade interior da própria ordem jurídica. É que, ainda segundo Han, o que assegura a estabilidade é tão somente a afirmação da ordem jurídica, ao passo que a violência se manifesta precisamente no momento em que o elemento sustentador desaparece da ordem do direito (idem, p. 105).
Partindo dessa ideia e observando a violência promovida pelo Estado brasileiro através de suas agências repressivas, notadamente a polícia, os órgãos que integram o sistema de justiça criminal, com destaque para o Ministério Público e o Poder Judiciário, assim como as prisões e os manicômios, podemos constatar que no nosso caso o emprego abusivo da violência de Estado tornou-se de certa forma naturalizada. O uso sistemático de recursos violentos virou prática banal e, em busca de alguma estabilidade para o funcionamento das instituições que sustentam a sociedade tal qual ela se apresenta, com suas contradições e desigualdades profundas, temos um Estado que mata muito, que prende muito e que tenta se impor mediante práticas violentas.
O produto desse processo, que não tem se diferenciado tanto assim em função de momentos mais ou menos democráticos da história recente do Brasil, se manifesta seja no ambiente das nossas muitas ditaduras, mas também nos lampejos de legitimidade democrática. De tal sorte, com tal processo violento que constitui fortemente a ação do Estado brasileiro, chegamos a 726.712 presidiários em junho de 20162. Para se ter uma noção do ritmo em que a população carcerária brasileira vem evoluindo, em 1990 havia cerca de 90.000 presos no país, número que cresceu mais de 700% desde então.
A título de comparação, a população brasileira como um todo cresceu não mais do que 35% no mesmo período. A letalidade policial também apresenta números perturbadores e, mesmo diante de problemas relacionados à subnotificação dos casos, foi objeto do registro de 4.222 casos em 20163. Mas as estatísticas, embora reveladoras e até assustadoras quando comparadas com outros países, mesmo aqueles que estão em situação de guerra, pouco dizem quando confrontadas com a dor e o sofrimento expressados neste Seminário pelas mães de tantos jovens mortos em operações policiais aqui na cidade do Rio de Janeiro4.
De outro lado, o manicômio judiciário, por mais absurdo que possa parecer, ainda funciona e tem muita força no Brasil. Essa instituição se sustenta mesmo diante do texto expresso da Lei Antimanicomial, que os proíbe taxativamente desde 2001 e, segundo o último levantamento mais completo realizado a respeito, havia 3.989 pessoas aprisionadas nessas casas de horrores em 2011 (DINIZ, 2013).
Entre tantas expressões da violência de Estado, todavia, a que mais impressiona pela agressividade com que vem ocorrendo em nosso país é aquela que se manifesta pelo aprisionamento juvenil. Não obstante a proibição constitucional da punição criminal de quem não tenha completado 18 anos de idade, o que se vê no Brasil é exatamente a imposição de medidas que, travestidas de socioeducativas, se apresentam como simples sanções penais. Sob o eufemismo da internação, o que se tem é a prisão de adolescentes em todo o país. Meninas e meninos que, já a partir dos 12 anos de idade, são levados ao encarceramento bruto e brutal, numa prática vergonhosa, além de inconstitucional, que expõe o destino reservado pelas políticas públicas para aqueles que são categorizados como adolescentes em conflito com a lei. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, eram 26.450 meninas e meninos presos (obviamente mencionados nos relatórios oficiais como internados) no ano de 20165.
ALGUNS FATORES DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
Como se vê às escâncaras, Estado e violência formam conceitos que no caso brasileiro são inseparáveis. Se teoricamente o uso da violência, segundo regras legalmente definidas, é um monopólio do Estado, temos no Brasil o uso abusivo, banalizado e brutal, às vezes bárbaro, da violência pelas diversas agências do aparato repressivo. E não cabe aqui limitar a quebra de limites unicamente pelas polícias, o que seria uma grande injustiça. O quadro de violações que temos hoje decorre da ação, concatenada ou não, embora eventualmente dissimulada por certas agências, da polícia sim, mas também e notadamente do Ministério Público e do Poder Judiciário. O resultado das ações, omissões, ou mesmo de manifesta cumplicidade, que culmina com o extermínio praticado nas ruas pela violência policial, ou com o encarceramento indiscriminado de adultos, sejam mulheres ou homens, como de adolescentes e de loucos, em condições as mais deploráveis e inimagináveis, é produto dessa máquina de triturar pessoas, máquina que se compõe das diversas agências do aparato repressivo do Estado.
O extermínio e o encarceramento em massa se apresentam, pois, como políticas públicas não declaradas e que contam com o apoio de boa parte da população, indignada em face da violência crescente6 e que não raro vê em ações repressivas abusivas respostas adequadas ao enfrentamento do crime e dos criminosos, na violência visível das ruas das cidades, apoiando os altos índices de casos com letalidade na ação da polícia, especialmente a militar, mediante simples justificativas em autos de resistência ou relatos de troca de tiros.
Merece registro, a propósito, pelo seu aspecto imoral, altamente reprovável e fascista, o comportamento de parte dos meios de comunicação social que se omite diante da violência policial ou, mais até, promove e comemora as ações policiais violentas, cujo sangue se reverte em patrocínio e lucros, além de dividendos políticos para alguns bustos falantes da televisão.
Nesse contexto, em face principalmente da violência urbana que a quase todos alcança, embora com maior intensidade aqueles que não têm proteção social e que, em relações precárias com o capitalismo neoliberal que se aprofunda, não logram acessar dispositivos essenciais nas políticas públicas essenciais de educação, saúde, segurança alimentar, trabalho, promoção de renda, como também de esportes e lazer, o que se tem é, voltando aqui a Byung-Chul Han, a violência como único recurso na ação do Estado. A pretexto de buscar alguma ordem, o Estado acessa recursos violentos, o que, diversamente da pretensa ordem que não logra alcançar, leva ao aprofundamento do próprio quadro de violências, notadamente em função do seu incremento pelas agências repressivas.
Num ambiente em que escolhas políticas (muitas delas sequer formalmente democráticas, como as derivadas do golpe parlamentar de 2016 que culminou com a deposição da presidenta eleita) levam ao aprofundamento da crise econômica, com o aumento do desemprego, da pobreza e da exclusão social, o Estado não se ocupa da proteção social para em seu lugar ofertar a repressão em suas variadas facetas. Populações marginalizadas e sem a proteção que só quem acessa as relações de produção/consumo pode ter passam a ser alvo da ação violenta das agências do Estado. Se a escola, a saúde, o emprego, o lazer, a arte e a cultura, dentre outras coisas fundamentais à vida com dignidade, não chegam à periferia marginalizada e excluída da proteção do capital, o que alcança essas populações é a polícia. A polícia comparece e atua, então, na contenção dessas populações, de forma a tentar manter a qualidade de vida não na periferia marginal, mas sim daqueles que ainda estão sob a proteção da redoma do capital.
A polícia não sobe o morro para levar segurança. Nem seria capaz de tanto, mesmo que de fato tivesse tal meta realmente definida. Segurança não se produz com polícia ou presença ostensiva de militares, como a experiência das Unidades de Polícia Pacificadora ou mesmo a intervenção federal têm demonstrado aqui no Rio de Janeiro. O Rappa explica esse paradoxo em um verso: “paz sem voz não é paz, é medo”.
A propósito, foi justo na vigência da intervenção que Marielle Franco foi assassinada, crime político que calou a voz de uma das principais representantes das populações cariocas marginalizadas. Segurança é produto de outras políticas, de cunho social, apenas complementadas pela polícia em sua limitada ação, preventiva ou repressiva. No contexto político que afirma as desigualdades ao invés de enfrentá-las e combatê-las, a polícia é mera agência repressiva a serviço de quem detém o poder econômico e político, o que, na concretude brasileira, a coloca (a polícia) a serviço dos cidadãos de bens, do patrimônio e do capital. Ao mesmo tempo, no intuito de atingir o seu desiderato não declarado, a mesma polícia se afirma como arma de guerra contra as populações marginalizadas, para as quais, sob os discursos de criminalização, reserva-se apenas a ação repressiva do Estado.
Ao descer do morro ou sair da favela, a polícia não costuma deixar ambientes pacificados ou seguros por onde passou. Pelo contrário, deixa um rastro de terror e morte, quase sempre com sangue e corpos espalhados pelo chão. O que poderia dizer Cláudia Silva Ferreira? Morta no Morro da Congonha na manhã de 16 de março de 2014, vítima de operação da Polícia Militar e que teve o corpo arrastado por centenas de metros pendurado no porta-malas da viatura policial, numa imagem quase surreal tamanha a brutalidade, mas que permitiu a todos conhecer a forma pela qual corpos negros são transportados pela Polícia Militar.
O que diria Amarildo? O homem negro que trabalhava como ajudante de pedreiro, vítima de uma história de terror que se tornou símbolo dos movimentos que denunciam a violência policial, história que ficou conhecida nacionalmente por conta de seu desaparecimento, desde o dia 14 de julho de 2013, após ter sido detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa, na Favela da Rocinha, rumo à sede da Unidade de Polícia Pacificadora. Seu corpo jamais foi localizado. Aliás, não é demais perguntar: onde está Amarildo?
O que diria Murilo Soares Rodrigues? O menino de 12 anos de idade que sumiu após ser abordado e detido por policiais militares em Aparecida de Goiânia em 2005. Até hoje a família segue sem respostas sobre o que aconteceu com ele e, como em tantos outros casos, sequer teve o direito de enterrar o corpo do adolescente.
São incontáveis os casos, e o seu simples relato já se mostra doloroso mesmo para quem não conviveu de perto com as vítimas. Outros casos, tão abjetos e horrendos como esses, têm registros pelos quatro cantos do país, situação que denota o extermínio de pessoas como uma prática policial banalizada e que só é possível em face da omissão, quando não da cumplicidade, de instâncias políticas superiores e das agências que deveriam atuar no controle da atividade policial.
Que o digam as senhoras que, com seu luto, sua dor, mas também com sua coragem, sua força e sua luta, comparecem a este Seminário para denunciar tantas mortes decorrentes dessas operações policiais criminosas que têm levado terror à população pobre, especialmente jovens e negros, e que são anunciadas friamente pelos meios de comunicação, justificadas até, em função de um discurso hipócrita de promoção da segurança. Segurança para quem, cara pálida?!
O quadro expõe, então, não somente violência institucional. Como visto, violência institucional pode ser até uma expressão redundante em face do tal monopólio da violência que só ao Estado cabe exercer. Estamos diante de um fenômeno muito mais grave no Brasil: o terrorismo de Estado.
TERRORISMO DE ESTADO E PRISÃO
O pano de fundo é o combate ao crime que, em nosso país, tem levado a discursos e práticas de guerra. A guerra contra o crime e a guerra contra as drogas são, então, elevadas à condição de instrumentos de ação do Estado. Já não basta, para quem sustenta esses discursos, a mera atuação dentro das margens legais e a guerra se apresenta como uma estratégia necessária de ação. Na guerra, diferentemente da ação pautada na estrita legalidade que deveria orientar a atuação policial, já não há limites claros. A guerra é travada não em benefício de pessoas, mas contra pessoas. A guerra contra o crime se traduz, assim, em uma guerra contra as populações marginalizadas. A guerra contra as drogas, facilitada inclusive com jurisprudências infames, permite até mesmo a invasão domiciliar sem mandado judicial.
Na política reduzida à guerra, o que mais se produz são corpos sem vida na periferia, morros e favelas, feitos campos de batalha e que, como tal, impõe vítimas também entre as forças policiais. Na política de guerra, segurança é o que menos se produz.
Ao se observar a evolução da população carcerária, você pode também notar outro efeito da política de segurança fundada no discurso de guerra. De 90.000 prisioneiros em 1990, podemos chegar ao final de 2018, segundo estimativas do próprio Departamento Penitenciário Nacional, a 840.000 mulheres e homens encarcerados. E aqui falamos exclusivamente da população carcerária adulta, mantida em ambientes equiparáveis a campos de concentração, cujas condições de sobrevivência impõem a absoluta indignidade daqueles que para lá são levados. Não são poucos os levantamentos feitos pelas mais variadas instituições a denunciar essa realidade, seja do Poder Legislativo em comissões parlamentares de inquérito, seja em relatórios do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou mesmo da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, conselhos de classe da Psicologia, da Assistência Social, bem assim de entidades defensoras de direitos humanos, a exemplo da Pastoral Carcerária.
Há um massacre brutal contra centenas de milhares de pessoas nesses espaços prisionais. O pretexto do combate à violência resulta, assim, na prática de crimes ainda mais graves pelo próprio Estado. Desassistência, abandono, degradação, tortura e morte fazem a rotina de praticamente todos os estabelecimentos prisionais, ressalvadas as raríssimas exceções, por todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal.
Tal qual vulcões em atividade, as prisões brasileiras entraram em permanente erupção por conta dessas condições já denunciadas há tempos. De tão corriqueiras, rebeliões e mortes já não são sequer noticiadas com destaque e assim acontece também numa tentativa vã de tornar invisível a tragédia humanitária dos cárceres, como se dessa maneira pudéssemos fazer com que o resultado de nossas próprias escolhas e ações fosse esquecido ou deixasse de existir. Chegamos ao ponto em que cabeças estão rolando nas prisões, literalmente. Passados mais de 25 anos desde o massacre do Carandiru, ao invés de enfrentarmos com seriedade os problemas derivados do encarceramento de pessoas, passamos a conviver cotidianamente com o bárbaro. Decapitações e pilhas de cadáveres como se viu em Manaus-AM, Boa Vista-RR, Alcaçuz-RN ou Aparecida de Goiânia-GO ilustram o quadro de horror que se agrava a passos largos, com o incremento da superlotação carcerária sob taxas de crescimento assustadoras.
Somente em São Paulo, para se ter alguma noção da avalanche encarceradora brasileira, conforme dados disponíveis na página da Secretaria de Segurança Pública daquele Estado, agora no mês de maio/2018 houve 14.935 novas prisões, seja por força de mandado judicial ou de flagrante7 , o que dá uma média de 481 prisões/dia. Você não leu errado: cerca de 500 pessoas são presas a cada dia somente no Estado de São Paulo! Embora não haja estatísticas dessa evolução diária/mensal no âmbito nacional, os dados do governo paulista servem perfeitamente para ilustrar o ritmo alucinante da evolução dos índices de encarceramento no Brasil.
Não há política pública ou recursos materiais, humanos e financeiros que sejam capazes de lidar com essa taxa monstruosa de crescimento da população carcerária, muito menos com os efeitos que a prisão produz do lado de fora dos muros. É certo que alguns dos detidos são liberados em audiências de custódia, assim como é certo que outros mecanismos processuais levam à soltura em sede judicial. Entretanto, a evolução da população carcerária não deixa dúvida quanto à inviabilidade de solucionar essa equação pela via da abertura de vagas ou ampliação do sistema. As taxas de aprisionamento são muito superiores à capacidade de construção ou do ritmo das liberações autorizadas no âmbito do processo ou da execução penal. O massacre, cujo silêncio só é quebrado de tempos em tempos nas rebeliões mais sangrentas, continua acontecendo diuturnamente nos depósitos de pessoas, verdadeiras máquinas de triturar os corpos daqueles que são categorizados como indesejáveis do sistema.
Importa realçar, nesse contexto de ilegalidades que expõem o Brasil como violador sistemático de direitos humanos, que não se trata somente de uma ação que poderia ser interpretada como de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, seja no plano nacional ou no dos estados. Isto porque, não obstante o quadro de horror dos presídios brasileiros, administrados obviamente pelas agências do Executivo, os juízes continuam a encaminhar homens e mulheres para esses espaços que violam os mais comezinhos direitos fundamentais. Autoridades judiciárias que deveriam velar pela preservação dos direitos humanos legitimam o horror carcerário e o fazem com apoio em posição institucional do Ministério Público, ou a requerimento dos integrantes desta instituição que, ao menos teoricamente, deveria velar pela defesa da legalidade e do regime democrático.
Assim como fazia Adolf Eichmann (cf. ARENDT, 1999), convicto de que atuava na estrita legalidade do regime político do nazismo quando providenciava rotas e logística para o transporte de judeus rumo aos campos de concentração, os juízes brasileiros assim procedem com a certeza de que, ao encaminhar seus réus para a prisão, apenas cumprem com suas obrigações legais. Se Eichmann afirmava desconhecer o destino dos trens repletos de judeus para eximir-se de qualquer culpa, também os juízes criminais brasileiros, ressalvadas as honrosas exceções, não se interessam por conhecer a realidade das quase-masmorras para onde vão os camburões, tampouco o destino de seus prisioneiros uma vez recepcionados do lado de dentro dos muros (CAETANO, 2017a). E não se incomodam, até por assim não se perceberem, em atuar como meros executores de uma política voltada ao encarceramento em massa que, seletiva, alcança preferencialmente a parcela jovem, negra e pobre da população.
O mesmo vale em relação às agências policiais e ao Ministério Público. Com as respeitáveis exceções de sempre, policiais e promotores de justiça, aliás, assumem abertamente e sem qualquer constrangimento o discurso de que o que vale mesmo é a punição, seja a que custo for. A esses agentes do Estado talvez sequer se apliquem as escusas de Eichmann, pois assim procedem seguros de que a sanção penal não precisa respeitar limites e que a violação de direitos dos presos não tem relevância, tampouco significa motivo de preocupação ou culpa, pois seria resposta legítima para a violação a que correspondiam os crimes praticados contra suas vítimas. O discurso imoral e fascista, representado nas máximas “direitos humanos para humanos direitos” ou “bandido bom é bandido morto”, está na essência da atuação institucional das agências do aparato repressivo, o que faz da negação de direitos o novo direito e da prisão o limbo jurídico onde não se aplicam as leis e a Constituição.
TERRORISMO DE ESTADO E LOUCURA
O manicômio judiciário, essa outra grande chaga aberta em nosso país, está a funcionar sem grandes obstáculos por quase todos os estados brasileiros. Mesmo diante da clareza solar da Lei Antimanicomial, que estabelece textualmente ser “vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares” (art. 4º, § 3º), mulheres e homens com transtornos mentais que são eventualmente submetidos ao processo penal seguem sendo conduzidos aos presídios de loucos. Embora identificados na lei como hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os manicômios não passam de espaços carcerários de exclusão e punição, quadro de horror denunciado à exaustão pela literatura, pela arte e pelo cinema, com incontáveis relatórios produzidos por praticamente todas as instituições que de uma forma ou de outra se relacionam com o assunto. Aliás, foi do próprio governo federal a iniciativa que levou ao levantamento estatístico que reforça as denúncias de ilegalidades e abusos no funcionamento dos manicômios judiciários pelo país, o que se materializou no já mencionado relatório organizado por Debora Diniz e publicado em 2013 sob o título A custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil: censo 2011.
Além do referido censo, foi feita outra pesquisa em 2015 pelo Conselho Federal de Psicologia em parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e com a Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde, e que teve por objeto verificar as condições de funcionamento dos manicômios judiciários. O levantamento, embora incompleto por não contemplar unidades de grande porte, como as que funcionam nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, expôs o panorama das condições de funcionamento desses estabelecimentos em relatório que está disponível na internet e que merece ser conhecido por inteiro8, mas que confirmou aquilo que já não é mais possível negar em relação aos presídios de loucos: condições extremamente degradantes, precária ou nenhuma assistência jurídica e psicológica, superlotação em níveis similares aos das prisões convencionais, isolamento dos detentos (pacientes), precariedade em níveis assustadores das estruturas físicas, dentre outras constatações não menos absurdas e graves.
Abro aqui um destaque para lembrar de uma experiência empírica importante que vem constrangendo essa realidade. Trata-se do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI), política pública instituída no Estado de Goiás no ano de 2006 e que aboliu definitivamente a internação manicomial dos loucos infratores. Mesmo não sendo a primeira experiência brasileira nesse campo, o PAILI constitui-se na mais significativa política pública antimanicomial por ter obtido o que para muitos poderia ser visto como irrealizável ao extinguir os manicômios judiciários em todo o território goiano, fazendo inserir os loucos infratores na Rede de Atenção Psicossocial e nos serviços universais da Assistência Social e da Saúde. O PAILI demonstra, em sua prática fundada na dignidade humana do louco e orientada segundo as disposições avançadas da Lei Antimanicomial, a plena possibilidade de uma sociedade sem manicômios.
Entretanto, não obstante a demonstração inequívoca da possibilidade de extinção dos manicômios judiciários, da sua ilegalidade e das atrocidades cometidas dentro desses espaços caracterizados pelo horror, ainda assim o aparato repressivo do Estado, com apoio naquelas mesmas instituições que deveriam atuar para a garantia de direitos humanos fundamentais, persiste na abjeta política manicomial em praticamente todos os demais estados brasileiros.
Outra faceta do terrorismo de Estado que também se manifesta nesse campo decorre da política de saúde mental quando em face do uso abusivo de drogas. Não raro a mídia se propõe a mostrar os espaços públicos ocupados por pessoas em situação de rua em imagens que são utilizadas com o nítido objetivo de provocar o desejo higienista na população. Então, escondida a vontade higienista por debaixo do pretexto humanitário de levar assistência social e saúde para aqueles indivíduos que habitam as cracolândias, surgem as propostas de internação forçada. A medida autoritária volta-se mais uma vez àquelas mulheres e àqueles homens identificados como indesejáveis, excluídos das relações de produção/consumo, que saíram dos espaços periféricos a eles reservados e que passaram a incomodar a população que ainda tem a proteção do capital.
Como resposta, vem o populismo manicomial (CAETANO, 2017b), instrumento que traz rápidos dividendos eleitorais, embora em nada sirva enquanto política de cuidado em saúde mental. De tal sorte, não faltam autoridades públicas, gestores e políticos a sustentar uma pretensa necessidade de promover a internação forçada desses seres humanos em situação de miséria e que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Tais autoridades escondem, atrás de seus aparentes gestos de boa vontade, a natureza higienista da internação, utilizada que é não em benefício da saúde dos indivíduos que sofrem de transtornos mentais os mais diversos, especialmente a dependência química, pois o grande problema visto pelo populismo manicomial não é o direito à saúde, que não chega, mas as ruas da cidade sujas por mulheres e homens indesejáveis que insistem em existir e que, assim, atrapalham o tráfego, praticam delitos e enfeiam a vista.
Os habitantes da cracolândia são desprovidos da condição de sujeitos da cidade para serem expulsos, o que pede, tal qual na Europa do século XVII (cf. FOUCAULT, 2014), a internação como resposta. A generosidade e a vontade burguesa de pôr ordem na cidade, assim como acontecia há quatrocentos anos, é mais uma vez a cortina de fumaça para promover a exclusão em massa das populações indesejáveis no século XXI.
O TERRORISMO DE ESTADO CONTRA A POPULAÇÃO JUVENIL
O quadro absurdo e quase surreal da violência institucional sistematicamente praticada pelo Estado brasileiro contra as populações que não contam com a proteção do capital e que são classificadas como marginais se completa com os presídios juvenis. Um panorama certamente digno da representação de Edvard Munch em sua série de pinturas O grito, pois traduzem a angústia e o desespero em sua face mais cruel.
Se a Constituição de 1988 nega a responsabilidade penal de quem ainda não completou 18 anos de idade, jamais poderia ser admitida a possibilidade de encarceramento como sanção contra os adolescentes que em algum momento praticaram atos de violência definidos como crimes pela legislação penal. A privação da liberdade do adolescente, prevista no texto constitucional em seu art. 227, § 3º, inciso VII, somente poderia ser admitida nos exatos termos ali definidos, obedecendo aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A regra fundamental está na proteção integral e na absoluta prioridade para a realização de seus direitos.
Entretanto, a vedação constitucional cai por terra já em 1990 na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando o legislador ordinário definiu a internação como medida socioeducativa. Mesmo com a redemocratização e diante dos novos princípios que se propunham a refundar o Estado brasileiro em 1988, o ECA não logrou romper com a tradição autoritária que se imaginava superada. As promessas da proteção integral e do respeito à condição peculiar do adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento dão lugar à manutenção da prática anterior, menorista. O tempo de privação da liberdade, indeterminado sob a natureza de medida socioeducativa, embora deva ser revisado periodicamente, pode estender-se por até três anos, indistintamente. Para se ter ideia do que isso significa, tal regra, que implica na indeterminação e na possibilidade de permanência do indivíduo em privação de liberdade a partir de análises periódicas, se confunde com dispositivos das medidas de segurança, medidas de natureza punitiva fundadas na teoria da periculosidade e inspiradas no Código Penal italiano, instituído sob a ditadura fascista de Mussolini.
A ordem normativa assim elaborada talvez se explique e se justifique na determinação de revisão periódica da internação ou da sua utilização teoricamente excepcional. Ocorre, entretanto, que em hipótese nenhuma o adolescente poderia ser reduzido à condição de prisioneiro. Mesmo aplicada a internação como medida socioeducativa, esta deveria ter os objetivos próprios assegurados na sua execução, de forma que a privação da liberdade fosse somente um instrumento voltado ao alcance dos objetivos da assistência integral e à promoção dos muitos direitos assegurados ao adolescente no art. 227 da Constituição. Na prática brasileira, o encarceramento de adolescentes deixou de ser instrumento socioeducativo para tornar-se um fim em si mesmo, uma medida de caráter nitidamente sancionatório.
Observe-se, ainda no ECA, que mesmo adolescentes com transtornos ou deficiência mental podem ser mantidos sob as condições da privação de liberdade. É o que prevê o seu art. 112, § 3º, quando estabelece que “os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições”. A proteção integral, embutida no discurso e nas premissas, fica distante também desse dispositivo do Estatuto. Afinal, saúde mental pede dispositivos de atenção em saúde, não práticas encarceradoras, e, mesmo nas políticas de atenção em saúde mental de uma maneira geral, a internação será a última opção terapêutica a ser empregada, só admitida quando recursos extra-hospitalares não se mostrarem suficientes.
De qualquer forma, o mais assustador está mesmo é na prática do encarceramento juvenil. Abandonada qualquer ideia de promoção dos direitos dos agora classificados sob o questionável rótulo de “adolescentes em conflito com a lei”, meninas e meninos são lançados aos presídios juvenis. Sim, presídios! O eufemismo da socioeducação não cabe para além do discurso e só funciona como elemento de legitimação das ilegalidades praticadas nesses espaços. E o superencarceramento juvenil já chegou, conforme os dados de 2016 antes mencionados, a 26.450 adolescentes nessa situação. Por isso, convoco todos os movimentos e militantes de direitos humanos a denunciar os ilegais presídios juvenis por todos os estados brasileiros.
Sem normas claras de execução, a internação funciona eventualmente sob condições até mais severas do que o aprisionamento de adultos, para os quais ao menos formalmente existe uma Lei de Execução Penal com a definição clara de direitos e obrigações. Como não se faz presente uma condenação de natureza penal, sequer o indulto ou a comutação podem ser invocados para contemplar os presos adolescentes. Desse conjunto de fatores e da pressão de parte da população, com eco nas falas de alguns apresentadores de televisão que se alimentam da violência no noticiário, o aprisionamento juvenil já se assemelha em praticamente todos os aspectos de funcionamento dos estabelecimentos penitenciários. O superencarceramento, a violência interna, a tortura, as rebeliões e mortes integram o cotidiano desses espaços, de forma que o terrorismo de Estado se volta, com toda sua força, então, contra os meninos e meninas do morro, da favela e da periferia, os pobres e pretos de tão pobres que não estão sob a proteção do capital. A violência do encarceramento juvenil funciona, assim, não somente como resposta ao ato infracional, mas também como uma ameaça permanente contra os adolescentes que habitam os espaços da exclusão social.
A brutalidade dos presídios juvenis foi objeto de um relatório da Anistia Internacional, que identificou a prática rotineira da tortura por funcionários do Estado brasileiro nas unidades do sistema socioeducativo. Somente no Estado do Ceará, foram duzentas denúncias formais de tortura de adolescentes nas unidades do sistema socioeducativo entre 2016 e setembro de 20179.
Porém, os casos mais medonhos, denotadores desse terror praticado pelo Estado contra quem deveria ter prioridade, atenção e proteção do próprio Estado, foram registrados recentemente na Paraíba e em Goiás.
Lagoa Seca-PB, 3 de junho de 2017: sete adolescentes morrem no Centro Socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca, cidade situada no agreste paraibano. Os meninos que morreram foram carbonizados ou esquartejados, outros feridos foram levados para atendimento hospitalar. O dado mais revelador da violência institucional não ganhou tanta ênfase na cobertura jornalística, mas pode ser observado pela ocupação do presídio: a unidade, construída para 40 adolescentes, estava com 218 meninos no momento da rebelião.
Goiânia, 25 de maio de 2018: dez adolescentes morrem em um incêndio no Centro de Internação Provisória, também superlotado, que funciona dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Goiânia. Num episódio ainda pendente de melhores esclarecimentos, segundo a versão oficial, os jovens teriam ateado fogo em um colchão e jogado próximo à porta do alojamento; o combate ao fogo não aconteceu na área externa e também não chegou a tempo de preservar o alojamento, de forma que as chamas alcançaram o seu interior, vindo a provocar a morte de nove adolescentes num primeiro momento. A décima vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu às queimaduras e, depois de ter passado por dias de internação e pela amputação de um dos braços, acabou vindo a óbito.
São casos emblemáticos os aqui lembrados, embora não sejam os únicos, infelizmente. Mas são suficientes para demonstrar o massacre promovido pelo Estado brasileiro contra os adolescentes. A violência institucional em sua face abjeta, deplorável, inimaginável. Os presídios juvenis são a expressão máxima do terror que o Estado pratica de uma forma nem um pouco sutil. Já não se esconde a sanha punitivista contra os adolescentes, tampouco essa percepção parece ser motivo para sequer enrubescer a face dos responsáveis pelo setor.
CONCLUSÃO
A violência institucional chegou ao ponto de ser capturada no discurso de candidatos a cargos no Parlamento, o que aliás nem é tão recente assim. Mas, agora, como se tem visto na campanha eleitoral deste ano de 2018, um determinado candidato à Presidência da República vem assumindo abertamente a defesa do autoritarismo e da violação de direitos, inclusive da tortura e de outras práticas típicas do regime que pensávamos havia sido superado com a redemocratização. E, pasmem, exaltando a ditadura militar, figura nas pesquisas entre os preferidos do eleitorado!
Não é sem razão, portanto, que tenhamos chegado a um ambiente de terrorismo. O Estado assume, por suas diversas agências repressivas e sem qualquer escrúpulo, ressalvadas as exceções, a prática da violência institucional como política pública, para a qual a retórica da guerra contra o crime ou contra as drogas funciona como dispositivo legitimador. O inimigo está nas camadas excluídas das relações capitalistas de produção/consumo e é identificado exatamente na população pobre e preta que, sem a proteção do capital, é criminalizada e submetida às atrocidades do aparato repressor.
A despersonalização materializada desde o transporte de presos nos porta-malas das viaturas da polícia produz e reproduz a figura de um inimigo que já não é visto como gente. Um inimigo que já não deve ser apenas contido, processado e punido, mas que pode também ser torturado ou mesmo abatido. O camburão continua subindo o morro e, como sempre, sem a pretensão de levar segurança. E jamais volta vazio, pois a polícia ali comparece para buscar corpos já criminalizados com antecedência, escolhidos entre os indesejáveis de sempre. No porta-malas sempre cabe mais um corpo preto e pobre, enquanto nos caminhos abertos pelo caveirão (blindado de guerra usado pela PM do Rio) segue jorrando o sangue de homens, mulheres, jovens e crianças. Como não lembrar aqui das últimas palavras de Marcus Vinicius da Silva no colo da mãe? O estudante de 14 anos morto pela polícia a caminho da escola na Favela da Maré no dia 20 de junho: “- Mamãe, ele não viu o meu uniforme?”
Não estamos diante, pois, de casos isolados ou de meras e eventuais violações às regras que regulam o exercício da violência dentro dos limites legais pela ação do Estado. O quadro é de sistemático uso de uma violência cada vez mais banalizada pelas agências repressivas, sob a omissão, o silêncio, quando não a cumplicidade dos órgãos que deveriam velar pelos direitos humanos e pela democracia, notadamente o Ministério Público e o Poder Judiciário. Políticas públicas não declaradas que manifestam a violação de direitos fundamentais, que se expressam das formas mais cruéis e que expõem a prática do terrorismo pelo Estado brasileiro contra sua própria população. O monopólio da violência já não é empregado segundo as balizas legais e constitucionais dentro das regras legítimas e democráticas. O terrorismo de Estado manifesta-se no momento em que esses limites parecem já não existir e se constitui justamente na banalização do uso político da violência e no emprego do terror para a opressão de grande parte da população, como instrumento de governos autoritários.
Se democracia pressupõe o respeito às regras do jogo (BOBBIO, 2000), nós estamos diante de algo que fere de morte a democracia. As regras do jogo democrático, definidas para o processo penal e para o funcionamento da máquina punitiva, não estão sendo nem de longe respeitadas. A máquina punitiva converteu-se, tal qual na ficção kafkiana da Colônia penal, em simples máquina de triturar corpos, ao passo que a realidade do neoliberalismo traduziu-se, conforme a descrição de Aquille Mbembe, na prática da necropolítica, pela qual “a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer” (MBEMBE, 2016).
Cabe, pois, pensando aqui em possibilidades de resistência democrática, denunciar o neoliberalismo e seus efeitos mortais para grande parte da população, especialmente a parte pobre e preta para a qual se reserva a opressão, a morte e os dispositivos encarceradores.
Importa denunciar o fracasso dos discursos de guerra como orientadores das políticas de segurança pública. Chega de guerra contra os pobres! Chega de guerra contra os negros! Passa da hora da implementação de direitos humanos, da luta e da conquista de direitos que devem a todos contemplar no horizonte utópico de uma sociedade menos desigual.
Devemos sempre denunciar o racismo, elemento chave que está na base dos discursos de guerra contra as drogas e contra o crime em geral, discursos esses que sempre se traduzem em práticas racistas, instrumentalizando e legitimando a violência policial, o extermínio e as práticas encarceradoras contra a população negra. O racismo é uma marca indelével da sociedade brasileira. Afinal, um país que promoveu a escravidão dos negros africanos por 370 anos(!) e que, quando encerrado esse tempo sombrio da história, a eles reservou apenas a exclusão e o abandono, sem qualquer política de amparo socioeconômico, tem cicatrizes horrorosas e que se manifestam no racismo do nosso cotidiano.
Por sua vez, é preciso não apenas reduzir o encarceramento, como também é urgente desencarcerar. Milhares de mulheres e homens, adultos ou adolescentes, podem perfeitamente retornar à liberdade sem que com isso aconteça qualquer tipo de ameaça à segurança da população em geral. Pelo contrário, práticas desencarceradoras tendem a produzir ambientes sociais mais saudáveis e seguros, uma vez que se apresenta inegável que a prisão constitui-se atualmente num dos principais vetores da violência urbana, o que é observável sem grandes esforços na ação das facções que dominam os espaços caóticos do cárcere.
Urge cobrar soluções para o problema das prisões, principalmente para as múltiplas violações de direitos nesses espaços, mas com o cuidado de não cair na sedução fácil das propostas de expansão do número de vagas. A questão passa exatamente pela redução do tamanho do sistema punitivo e a solução dos problemas relacionados à violência está fora das prisões.
De outra parte, um grande desafio é transformar as práticas instituídas para o enfrentamento da violência juvenil. O encarceramento de adolescentes expõe o nosso desastre enquanto sociedade que se pretende democrática. Se não é permitido responsabilizar criminalmente os adolescentes, inclusive por cláusula imutável da Constituição brasileira, impõe-se a adequação do sistema socioeducativo de forma a abolir práticas puramente punitivas e encarceradoras. A proteção integral da juventude não pode permanecer eternamente no discurso, devendo ser inserida como objetivo maior sempre que o adolescente envolver-se em ato de violência, mas, fundamentalmente, servir como base para políticas de inclusão social, para a afirmação de seus direitos e para a redução das desigualdades.
Fechar todos os presídios juvenis é outra urgência no enfrentamento do terrorismo de Estado. São dispositivos absolutamente incompatíveis com a Constituição e que devem dar lugar a instituições aptas a garantir os direitos dos adolescentes envolvidos na prática de atos infracionais. A privação da liberdade deve, de fato, e não apenas na retórica de discursos vazios, respeitar a excepcionalidade determinada na Constituição; e, quando não houver outros dispositivos e for realmente necessária, que seja aplicada em absoluto respeito à integridade física e mental e à dignidade dos adolescentes, sempre em espaços distintos e que não sigam o modelo nem as rotinas penitenciárias.
Em termos mais amplos, também a emancipação da sociedade deve da mesma maneira compor o horizonte como meta a ser alcançada, pois a alienação favorece a perpetuação de práticas autoritárias. De tal sorte, ao reivindicar segurança pública, as pessoas entrevistadas no noticiário local não farão pedidos por mais polícia ou mais prisões, mas sim por mais políticas públicas que contemplem os direitos fundamentais da população, educação pública e de qualidade, equipamentos e serviços de saúde dignos, espaços destinados ao esporte e ao lazer, arte, cultura, saneamento básico, políticas de geração de emprego e renda. Direitos humanos, enfim.
Contra a violência institucional e o terrorismo de Estado, resistência democrática, com força, luta e a esperança viva dos versos de Thiago de Mello:
Madrugada camponesa,
faz escuro ainda no chão,
mas é preciso plantar.
A noite já foi mais noite
a manhã já vai chegar.
Não vale mais a canção
feita de medo e arremedo
para enganar solidão
Agora vale a verdade
cantada simples e sempre
agora vale a alegria
que se constrói dia a dia
feita de canto e de pão.
…
Madrugada da esperança
já é quase tempo de amor
colho um sol que arde no chão,
lavro a luz dentro da cana
minha alma no seu pendão.
Madrugada camponesa
faz escuro (já nem tanto)
vale a pena trabalhar
faz escuro, mas eu canto
porque a manhã vai chegar
Haroldo Caetano é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), doutor em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF); autor de Execução Penal (Porto Alegre: Magister, 2006), Embriaguez e a teoria da actio libera in causa (Curitiba: Juruá, 2004), Ensaio sobre a pena de prisão (Curitiba: Juruá, 2009); Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás e membro do Coletivo Transforma MP
Foto: Geração Editorial/divulgação – Hospital Colônia de Barbacena.
1 Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça. Relatório disponível em: <depen.gov.br>.
2 Conforme o Atlas da Violência 2018 (IPEA e FBSP), disponível em: <forumseguranca.org.br>.
3 Este artigo baseia-se em palestra proferida no dia 7 de junho de 2018 por ocasião do seminário “Execução, tortura e desaparecimento forçado: racismo e violência de Estado hoje”, promovido pela Subcomissão da Verdade na Democracia Mães de Acari, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
4 Relatório completo disponível em: .
5 Para ficar apenas em um dado, segundo o Atlas da Violência 2018, o Brasil teve 62.517 homicídios no ano de 2016.
6 Maiores detalhes em: <ssp.sp.gov.br>.
7 O documento está disponível em: <https://site.cfp.org.br/publicacao/inspecoes-aos-manicomios-relatorio-brasil/>.
8 Relatório disponível em: <anistia.org.br>
REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
CAETANO, Haroldo. O juiz e a banalidade do mal. In: Quebrando as grades (org. Givanildo Manoel da Silva). São Paulo: G. Manoel, 2017a, pp. 161-166.
______. O populismo manicomial na política de drogas. In: Boletim IBCCRIM, n. 286. São Paulo: IBCCRIM, 2017b, pp. 19-20.
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CFP. Inspeções aos manicômios. Brasília: 2015, CFP. DINIZ, Debora. A custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil: censo 2011. Brasília: Editora UnB, 2013.
FOUCAULT, Michel. História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 2014.
HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Petrópolis: Vozes, 2017.
KAFKA, Franz. Na colônia penal. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
MBEMBE, Aquille. Necropolítica. In: Arte & Ensaios. Rio de Janeiro: n. 32, 2016, pp. 123-151.
MELLO, Thiago de. Madrugada camponesa. Faz escuro, mas eu canto. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS – MPGO. Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator – PAILI. Goiânia: MPGO, 2013.