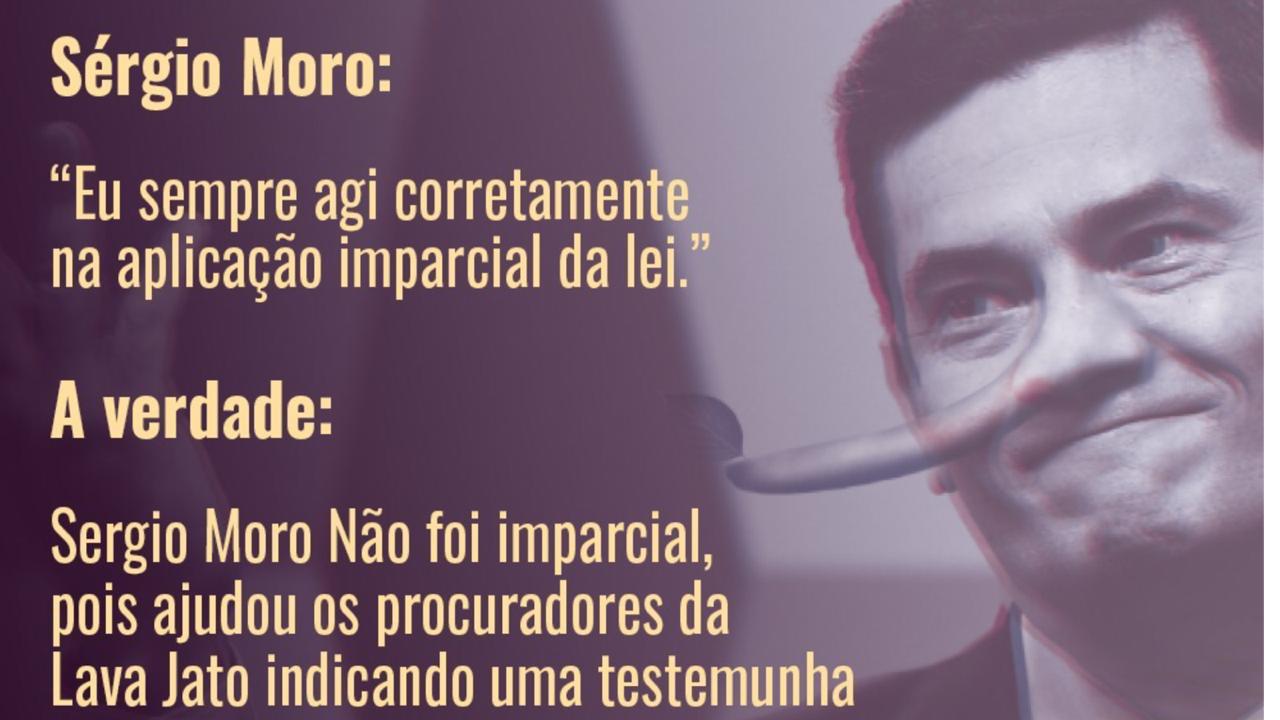Por Ana Gabriela Brito Melo Rocha, no GGN.
Em dezembro de 2017, quando do falecimento de Zuleika Sucupira Kenworthy, primeira Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, comentei em um grupo de WhatsApp de trabalho que se, atualmente, nós, mulheres, ainda encontramos algumas formas de machismo institucional, eu nem seria capaz de imaginar as experiências que Promotoras de Justiça vivenciaram em décadas anteriores.
Um colega, demonstrando surpresa, indagou-me se havia machismo no Ministério Público de Minas Gerais. Ao tomar conhecimento de alguns episódios, um dos quais relatarei mais à frente, afirmou que as situações seriam muito genéricas e não configurariam discriminação de gênero.
Em um tom de cordialidade, o debate, que envolveu outros e outras colegas, seguiu-se e se tornou um experimento interessante. Um membro se manifestou no sentido de que estaria faltando às pessoas bom humor e que, por eu ser inteligente, bem-sucedida e bonita, não deveria pensar assim. Emendou que torcia por uma geração com menos “mimimi”. E foi apoiado com uma manifestação de que “quando se problematiza demais, há o risco de se ver preconceito e humilhação em tudo”. Uma colega mencionou a falta de debate institucional sobre a questão e a ausência de representatividade feminina.
Um Promotor de Justiça saiu do grupo e três, todos do gênero masculino, se manifestaram no sentido de que o espaço, um grupo de Promotores de Justiça que atuam em um projeto específico de defesa do patrimônio público, seria impróprio para o debate. Importante registrar que foram compartilhadas, em oportunidades anteriores e sem que tenha havido qualquer protesto, mensagens relativas a assuntos totalmente estranhos à finalidade do grupo, dentre as quais felicitações pelo dia dos pais, mensagens motivacionais e até mesmo o link de um artigo sobre “ideologia de gênero”.
As Promotoras de Justiça que se pronunciaram foram abertas ao debate, em que algumas, inclusive, compartilharam situações nas quais se sentiram discriminadas por serem mulheres. Uma contou ter sofrido preconceito dada a idade com a qual ingressou na instituição, não obstante tenha um colega de turma com a mesma idade. Outra narrou o preconceito vivenciado em um concurso promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no curso de uma entrevista na qual cinco examinadores, todos do gênero masculino, esqueceram-se de que ela era a examinada e debatiam acerca da impossibilidade de o marido a acompanhar em razão de ser proprietário de um restaurante no Estado de Minas Gerais, motivo pela qual a contraindicaram.
Um dos episódios que relatei se referia a uma ação educacional, em 2014, na qual foi veiculado um vídeo em que um personagem dizia, com naturalidade e em tom de piada, que um exemplo de pleonasmo seria “mulher burra”.
Recordo-me que o exemplo, não de pleonasmo, mas de misoginia, difundido em uma ação educacional promovida por uma escola institucional do Ministério Público em pleno mês de março, período no qual são exaustivamente discutidas questões relacionadas à desigualdade de gênero, fez com que eu, na condição de mulher e, principalmente, de Promotora de Justiça, me sentisse profundamente agredida e desrespeitada. O sentimento foi compartilhado, na época, por outras colegas.
Segundo uma pesquisa organizada pela comissão de mulheres da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e divulgada recentemente[1], os principais fatores que impedem a maior presença feminina na Justiça Federal são: a dupla jornada da mulher, a falta de apoio por parte de maridos ou companheiros quando é necessário mudar de cidade e o fato de a vida da mulher ser mais afetada pela profissão do que a dos colegas do gênero masculino. De acordo com 82% das magistradas entrevistadas, as mulheres têm mais dificuldade para serem promovidas em comparação com os homens. Outro dado fundamental aponta que 55% das entrevistadas declararam ter sofrido uma reação negativa por parte de outros profissionais por serem mulheres, enquanto 32% declararam não ter sofrido. O considerável índice de 13% das juízas ouvidas afirmaram não ter a certeza sobre terem ou não vivenciado uma reação negativa de outros profissionais em razão do gênero. A leitura do levantamento pode ser melhor compreendida em cotejo com dados colhidos pelo Censo do Poder Judiciário do ano de 2014[2], de acordo com o qual a magistratura nacional é composta por 35,9% de mulheres e 64,1% de homens, sendo que a desigualdade aumenta com o progresso na carreira. 78,5% dos Desembargadores e 81,6% dos Ministros de Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal são do gênero masculino, enquanto a representação do gênero feminino nos referidos espaços é de, respectivamente, apenas 21,5% e 18,4%.
+Leia também: Associadas do Coletivo apresentam tese sobre desigualdade de gênero no Ministério Público
No XXII Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Belo Horizonte, em setembro de 2017, seis mulheres integrantes do Ministério Público brasileiro apresentaram a tese “Diagnóstico e perspectivas da desigualdade de gênero nos espaços de poder do Ministério Público: “santo de casa não faz milagre?”[3] . Após promoverem levantamentos inéditos, as autoras concluíram que as mulheres, minoria dentre os membros do Ministério Público brasileiro, têm participação ainda mais reduzida nos quadros e funções de poder dentro do Ministério Público dos Estados. Constaram, ainda, que a despeito de ser o Ministério Público um agente de transformação social ao qual foi atribuído a missão de combate às desigualdades sociais, incluída a desigualdade de gênero, a instituição abriga, no seu próprio seio e sem qualquer problematização, aquilo que deveria combater.[4]
Lugar de fala, empatia e escuta ativa
O debate que mencionei anteriormente e os dois estudos realizados permitem importantes reflexões. A primeira é que a observância do lugar de fala[5], isto é, da posição da qual olhamos no mundo para nele intervir, é fundamental. Nessa linha, tem-se que pessoas do gênero masculino não terão a mesma percepção acerca das situações vividas por mulheres ou mesmo da importância das demandas por elas apresentadas. Então, é preciso que o debate ocorra de forma empática e com escuta ativa, a fim de que possamos nos conectar com as necessidades e os sentimentos alheios. As tentativas de silenciamento, de desvalorização ou de ridicularização das necessidades e sentimentos expressados por mulheres configuram uma forma de violência sociocultural pouco ou nada percebida como tal e ensejam a perpetuação do estado de desigualdade.
À luz do paradigma científico adotado pela ciência contemporânea emergente, não há possibilidade de um conhecimento objetivo do mundo, sendo um imperativo que nos incluamos nos sistemas que observamos. Logo, é necessário que nos compreendamos como observadores, com base em nossa forma de sermos biológicos, nas transformações decorrentes de nossas próprias experiências e, a partir dessa compreensão, analisemos o nosso modo de estar, agir no mundo e, principalmente, de constituir conhecimento. A validação das experiências subjetivas ocorre mediante a criação de consensos e as diferenças precisam ser um convite ao diálogo, e não à refutação.
Da importância da representatividade feminina para o sistema de justiça
A tese apresentada no XXII Congresso Nacional do Ministério Público por cinco Promotoras e uma Procuradora de Justiça, bem como a pesquisa realizada com juízas, pela Comissão Ajufe Mulheres, revelam que é preciso que sejam assegurados voz e poder ao gênero feminino com o fim de que as questões relativas às desigualdades entre os gêneros sejam efetivamente ouvidas, pensadas e, principalmente, trabalhadas institucionalmente.
Garantir um espaço igualitário de fala e de representação entre os gêneros significa não apenas a democratização interna do sistema de justiça, mas, igualmente, a promoção de outros espaços mais democratizados, eis que, mudando-se a percepção do sistema de justiça e de seus atores, altera-se também a forma de atuação daqueles nas relações das quais participam. Então, ao se trazer a lume as desigualdades institucionais que hoje são invisíveis ou consideradas de somenos importância para a maioria dos membros, debatê-las e combatê-las, estamos também habilitando agentes políticos a reconhecer e a rechaçar outras formas de violência contra a mulher que não se classifiquem apenas como física, sexual, patrimonial ou moral.
Da manutenção da situação de vulnerabilidade do gênero feminino
Por fim, constata-se que, embora a carreira pública possa neutralizar algumas distinções socioculturais e econômicas entre os gêneros, impossibilitando, por exemplo, a demissão em razão da maternidade ou menor remuneração a mulheres, as barreiras que nos são colocadas se tornam mais sutis e, sendo quase imperceptíveis, não são contestadas. É o que acontece, por exemplo, com a prática de um homem interromper, desnecessariamente, conscientemente ou não, a fala de uma mulher (manterrupting)[6] ou com a estigmatização da assertividade feminina. Segundo pesquisa feita por Tonja Jacobi e Dylan Schweers, da Northwestern Pritzker School of Law junto ao Poder Judiciário norteamericano, publicada em março de 2017[7], mulheres são interrompidas, em média, três vezes mais do que homens, apesar de falarem com menor frequência e em menor tempo que eles.[8]
Contaram-me que, já do alto dos seus 100 anos, a desbravadora Zuleika Sucupira Kenworthy certa vez disse que depositava em nós, jovens, a esperança de um Ministério Público com homens e mulheres em pé de igualdade e de um Brasil melhor. Certamente há um longo caminho até lá.
[1] Disponível em: <https://www.ajufe.org/imprensa/noticias/10398-comissao-ajufe-mulheres-revela-o-perfil-da-magistrada-brasileira-a-jornalistas>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[2] Disponível em: <https://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/censo-do-poder-judiciario-2014/at_download/file>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[3] Disponível em: <https://transformamp.com/associadas-do-transforma-mp-apresentam-tese-sobre-desigualdade-de-genero-na-instituicao/>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[4] Disponível em: <https://congressonacional2017.ammp.org.br/public/arquivos/teses/55.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[5] Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/01/15/O-que-%C3%A9-%E2%80%98lugar-de-fala%E2%80%99-e-como-ele-%C3%A9-aplicado-no-debate-p%C3%BAblico>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[6] Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/09/28/%E2%80%98Manterrupting%E2%80%99-a-pr%C3%A1tica-sexista-de-interromper-uma-mulher-quando-ela-est%C3%A1-falando>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[7] Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2933016>. Acesso em: 11 fev. 2018.
[8] Disponível em: <https://qz.com/952214/female-supreme-court-justices-get-interrupted-three-times-as-much-as-men-a-new-study-shows/>. Acesso em: 11 fev. 2018.