Por Gustavo Roberto Costa, no GGN.
O ano de 2017, assim como o de 2016, é daqueles bons para serem esquecidos, ao menos no que se refere à atuação dos órgãos da justiça criminal e suas práticas arbitrárias e ilegais, que infelizmente se tornaram regra no Brasil. A Constituição Federal supostamente em vigência concedeu aos atores processuais (Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário) instrumentos e garantias que os tornaram fortes e independentes de outros poderes. Com um alto grau de independência, poderiam atuar na implementação do projeto constitucional, livres de pressões externas e até mesmo internas. Poderiam corrigir ilegalidades e malversação do dinheiro público, viessem de onde viessem. Isso na teoria. Na prática, parceiro, deu tudo errado.
Os atores da justiça criminal, no mais das vezes, imbuídos de uma sanha persecutória crédula de que problemas complexos podem receber soluções simples, passaram a fechar os olhos aos mais elementares direitos e garantias fundamentais, cuja defesa justifica os altos custos de sua enorme estrutura. Certos de que os fins justificam os meios, cada juiz, cada procurador da república, cada promotor de justiça, cada delegado criou uma legislação própria, de acordo com suas crenças e convicções pessoais, ligando pouco para o que diz o ordenamento jurídico.
Os acordos de colaboração premiada são um bom exemplo da distorção que vem sendo dada à lei.
Nos autos da Petição n. 7.265, em que a Procuradoria Geral da República requeria ao Supremo Tribunal Federal a homologação de um acordo de colaboração, o Ministro Ricardo Lewandowski recusou o pedido e negou eficácia ao documento. Com base no art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013, o Magistrado observou que não estavam presentes os requisitos de “regularidade e legalidade” do acordo, o que impedia sua homologação.
Havia o Ministério Público Federal proposto ao colaborador, dentre outras coisas, “o perdão judicial de todos os crimes, à exceção daqueles praticados por ocasião da campanha eleitoral para o Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2014 (…), pelos quais a pena acordada é a condenação à pena unificada de 4 anos de reclusão, nos processos penais que vierem a ser instaurados com esteio nos fatos objetos deste acordo, em regime fechado, a ser cumprido, em estabelecimento prisional, nos termos da lei penal”.
Propusera ademais que, pelo prazo de um ano, haveria recolhimento domiciliar noturno, que viagens a trabalho somente seriam autorizadas judicialmente e que o colaborador prestaria 20 horas de serviços comunitários por 3 anos, perfazendo, desta forma, os 4 anos da pena negociada. Seria o colaborador obrigado ainda a pagar uma quantia de R$ 1.500.000,00. Em suma, seriam aplicadas e cumpridas penas estipuladas pelo Ministério Público, como condição para a validade da avença.
O Ministro Lewandowski, em sua decisão, observou que a admissão de culpa como “forma de finalização do processo” não encontra amparo em nosso sistema processual. Não há lugar, ademais, para “a ampla discricionariedade” do órgão acusatório. Cabe ao Poder Judiciário o “monopólio da jurisdição”, de modo que somente ele pode “fixar ou perdoar penas”. Ponderou o ministro também que não podem as partes estabelecer regime de pena diverso do previsto em lei. Asseverou por fim que homologar o acordo tal como celebrado representaria a permissão para que o Ministério Público atuasse “como legislador”, estabelecendo sanções inexistentes e de “caráter híbrido”.
Analisando a legislação de regência, nota-se que está com a razão o Ministro da Corte Suprema.
Não há em nosso ordenamento jurídico dispositivo legal que permita ao Ministério Público “estipular penas” a colaboradores. A Lei n. 12.850/2013, que regulou com mais detalhes o instituto da colaboração premiada, prevê, em seu artigo 4º, que “o juiz poderá (…) conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente” com a justiça. A representação pode ser feita pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público, de acordo com o art. 4º, § 2º, e o prazo para o oferecimento da denúncia pode ser suspenso por 6 meses, prorrogável por igual período (art. 4º, § 3º), podendo o órgão acusatório deixar de oferecê-la (art. 4º, § 4º). O artigo 6º elenca os requisitos que deve conter o termo de colaboração. A Lei n. 9.807/1999, em seus artigos 13 a 15, traz disposições semelhantes.
Nenhuma das leis mencionadas abre a possibilidade de que sejam negociadas quantidades, regimes ou formas de cumprimento de pena em documentos de colaboração premiada. Somente o que podem “propor” as partes é a concessão do perdão judicial, a redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade e/ou a substituição por restritiva de direitos. Nada mais. E em todo caso, somente poderão ser os benefícios concedidos pelo juiz de direito, após regular processo criminal.
Assim é porque os órgãos integrantes do sistema criminal fazem um controle entre si. Se houver abuso por parte da polícia, o Ministério Público pode corrigi-lo. Se houver por parte do Ministério Público, o Poder Judiciário pode corrigi-lo. Se o abuso for do juiz, as partes podem solicitar que tribunal o corrija. Admitir a “criação” de penas por parte do órgão acusatório, além de permitir que ele funcione como legislador – como disse o Ministro Lewandowski –, seria afastar qualquer possibilidade de controle da medida, o que não se pode admitir.
Afrânio Silva Jardim, professor de processo penal da UERJ e membro aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro, leciona: “o acordo não fixa ou já determina a pena e o seu regime de cumprimento. Ao Poder Judiciário, com exclusividade, é que compete aplicar e individualizar as penas e seus regimentos, consoante previsão do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Assim, a sentença penal continua sendo o único título executório no processo penal. Não se executa pena com base em negócios jurídicos processuais, ainda que homologados em juízo”.[1] Para o autor, não há a prevalência do negociado sobre o legislado no processo penal.
Caso não haja um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário, limitando os poderes do órgão acusatório para a celebração de acordos de delação premiada, continuaremos convivendo com excrescências como a do senhor Alberto Youssef, condenado a 122 anos de reclusão, mas tendo cumprido somente 3 em regime fechado[2], ou de Marcelo Odebrecht, condenado a 31 anos de reclusão, mas cumprido somente 2 e meio em regime fechado[3]. Não que se acredite – ainda que minimamente – no encarceramento como solução para o problema da criminalidade. Todavia, há que se estabelecerem critérios mínimos, que possam ser fiscalizados e controlados, sob pena de situações parecidas terem soluções absolutamente diversas.
Outro grave problema que deverá ser enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal é a farra das “conduções coercitivas”. Embora o art. 260 do Código de Processo Penal seja claro e cristalino no sentido de que a autoridade poderá mandar conduzir o acusado que “não atender à intimação para o interrogatório”, operações espetaculares continuam sendo “produzidas”, para o fim de se cumprirem mandados de condução coercitiva antes de qualquer intimação do interessado. E nesse aspecto, pouco (ou nada) importa que tais práticas venham sendo “confirmadas” pelos tribunais regionais e superiores. O quadrado vai continuar sendo quadrado e o redondo sendo redondo, ainda que tribunais digam o contrário.
A explicação de representantes de órgãos de classe[4], no sentido de que as conduções são decretadas para evitar prisões temporárias (outra grave inconstitucionalidade[5]), desnuda a ilegalidade da medida; explicita que o que se pretende é justificar os meios com os fins. Medidas restritivas de direitos não devem ser adotadas para se “evitar um mal maior”, e sim se (e somente se) estiverem presentes seus requisitos legais. Não importa se o investigado vai combinar o depoimento com terceiros, nem se vai consultar um advogado sobre o que falar ou não. Decretar uma medida drástica, claramente limitadora do direito à liberdade, por motivos não previstos em lei, representa uma arbitrariedade, e deve ser proibida.
Eis que a luz no fim de túnel vem do controverso Ministro Gilmar Mendes. Com todas (e não são poucas) as críticas que se pode ter contra o magistrado, desta vez parece que ele acertou. Nos autos da ADPF n. 444/DF[6], o ministro, em caráter liminar, decidiu proibir o uso das conduções coercitivas de investigados para interrogatório. Segundo a decisão, “a condução coercitiva para interrogatório representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade, para obrigar a presença em um ato ao qual o investigado não é obrigado a comparecer”. Em razão disso, seria incompatível com a Constituição Federal. Consignou-se ainda que “na medida em que não há obrigação legal de comparecer ao interrogatório, não há possibilidade de forçar o comparecimento.”
Não se contentaram com o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier[7], preso temporariamente por estar sendo investigado por um crime (obstrução de justiça) cujas penas geralmente possibilitam a substituição da prisão por restrição de direitos, como prestação de serviços à comunidade, multa etc. Se nem mesmo a pena final representaria a privação da liberdade do reitor, por que razão foi ele preso antes mesmo do processo penal? A morte de Luiz Carlos escancarou o estrago que o Estado policial pode provocar. E o que é pior: com esses precedentes perigosíssimos, os atores do sistema de justiça não terão nenhum pudor – como nunca tiveram – em adotar tais práticas contra seus “clientes” cativos (pobres, negros, moradores de periferia).
Numa época em que ser positivista é ser progressista; em que o Poder Judiciário julga “ouvindo a voz das ruas” (seja lá o que isso queira dizer) e pautado por grandes corporações midiáticas; em que o Estado Democrático é usado como verniz para a violação dos mais caros direitos humanos; em que juízes atuam como acusadores e acusadores querem atuar como juízes, é melhor não conceder poderes em demasia a nenhum órgão estatal, por melhores que sejam suas intenções.
Gustavo Roberto Costa é Promotor de Justiça em São Paulo. Membro fundador do Coletivo por um Ministério Público Transformador e membro do Movimento LEAP-Brasil – Agentes da Lei contra a Proibição.
[1] https://emporiododireito.com.br/backup/acordos-de-cooperacao-premiada-policia-e-o-ministerio-publico-por-afranio-silva-jardim/
[2] https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/3-anos-depois-de-preso-pela-lava-jato-alberto-youssef-passa-para-o-regime-aberto/
[3] https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/12/marcelo-odebrecht-deixa-cadeia-para-cumprir-prisao-domiciliar.html
[4] https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/20/sem-conducao-coercitiva-juizes-podem-recorrer-a-prisao-temporaria-diz-presidente-da-ajufe.htm






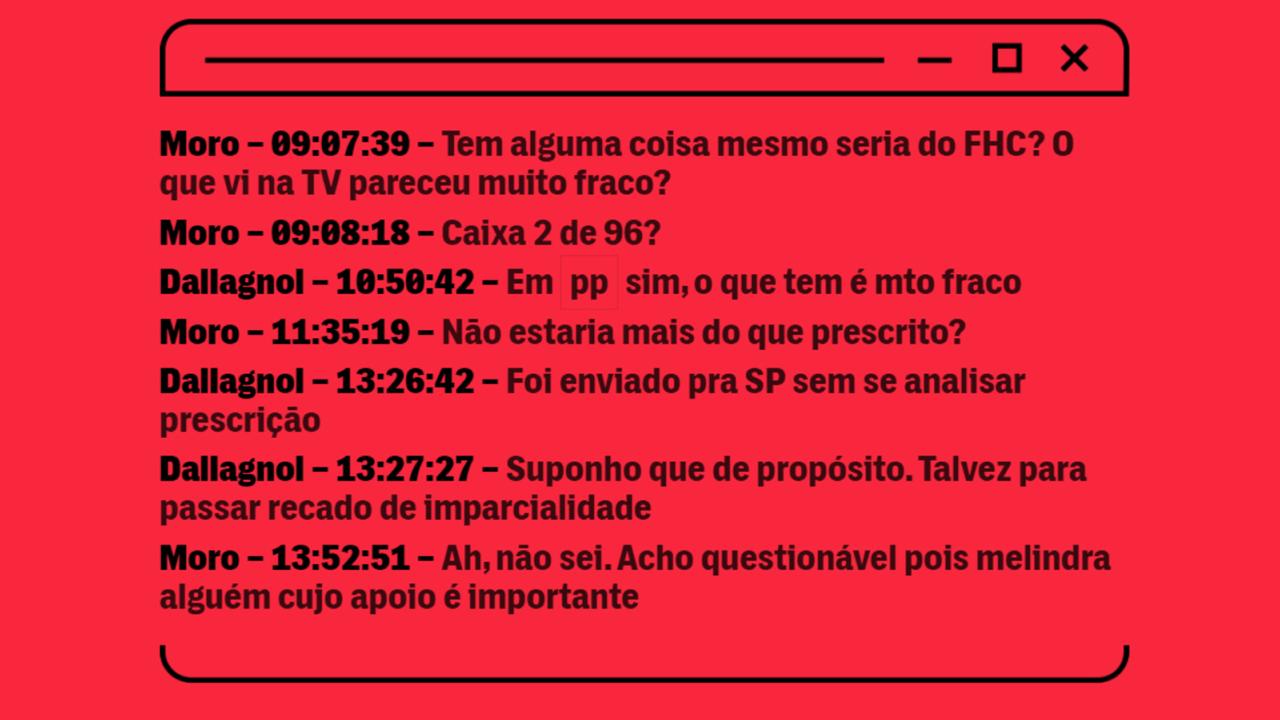






Pingback: Prisão preventiva de 90% das prisões em flagrante: a conta atinge ares de escândalo - Coletivo Transforma MP